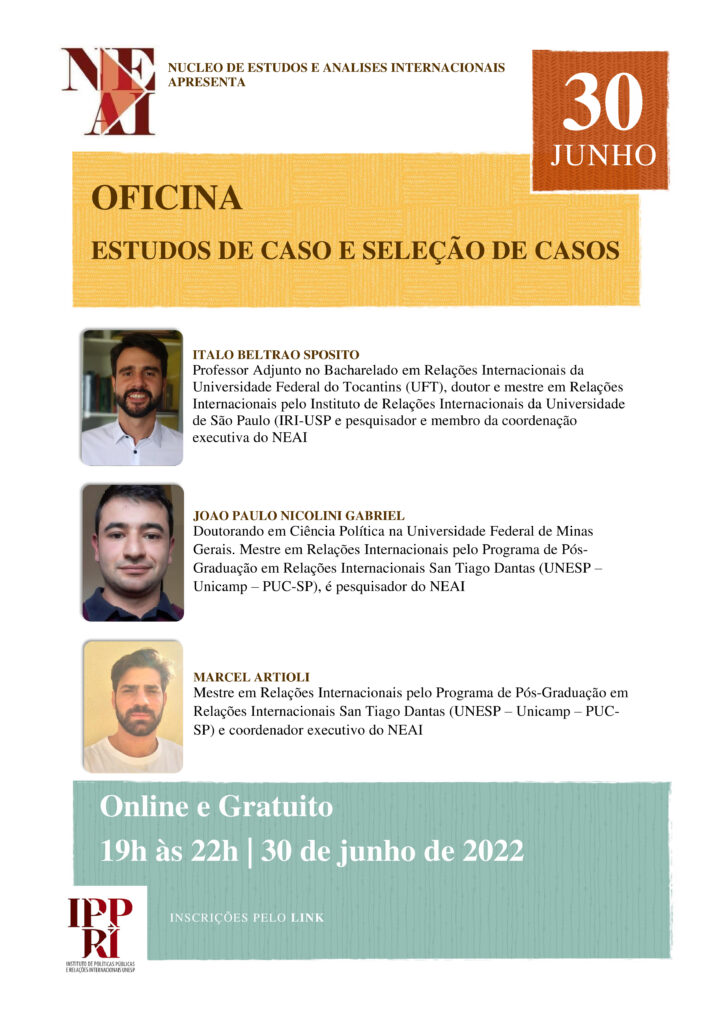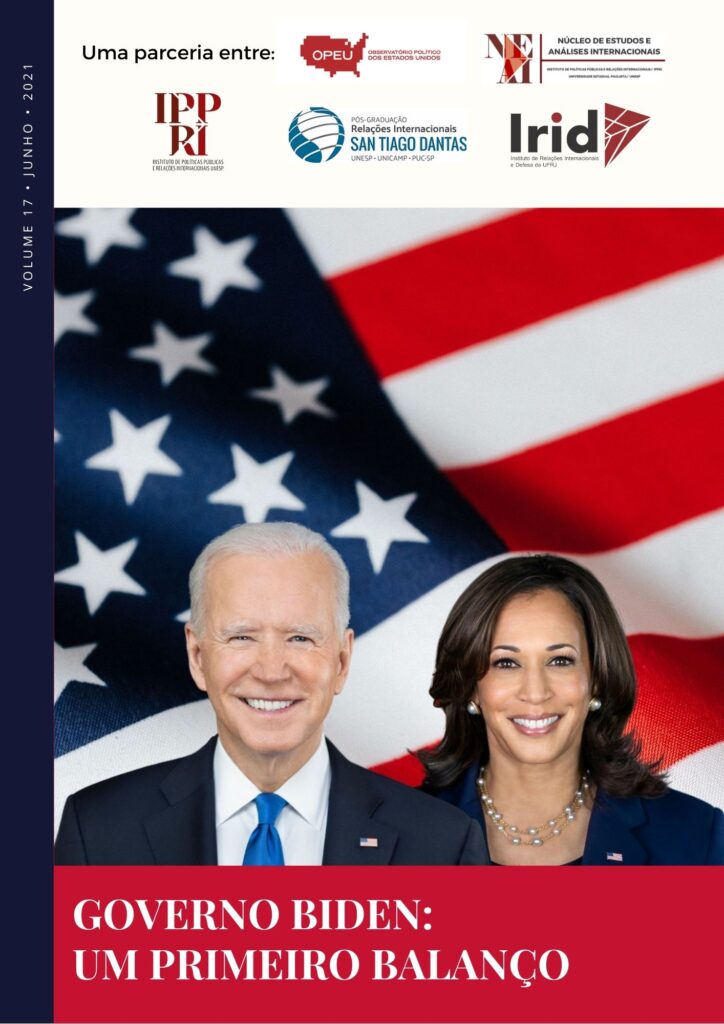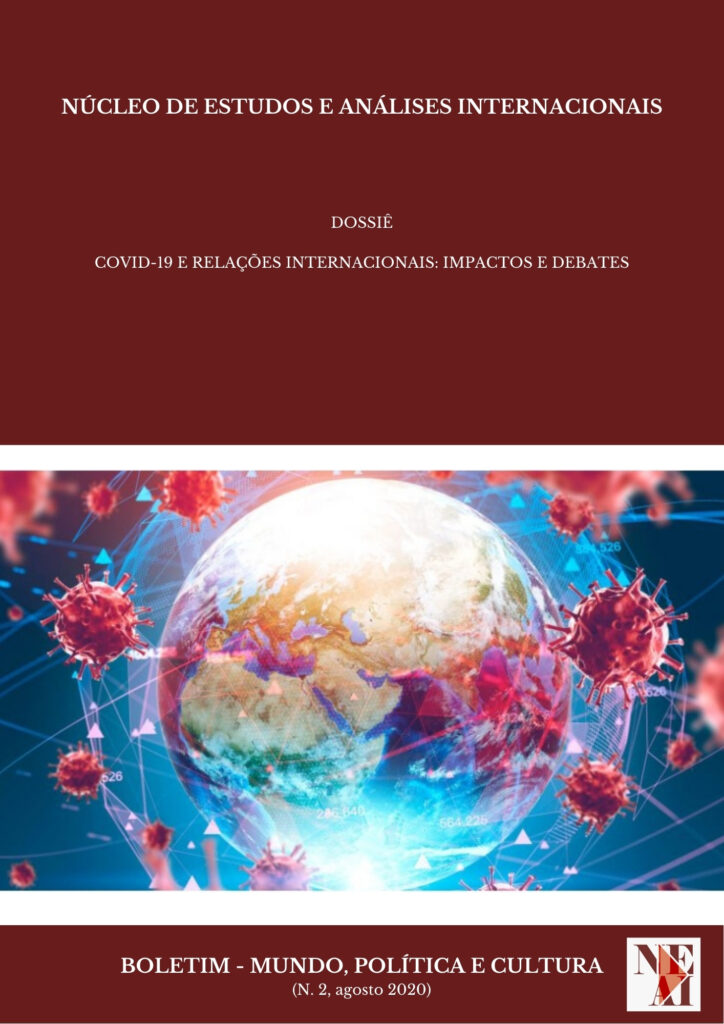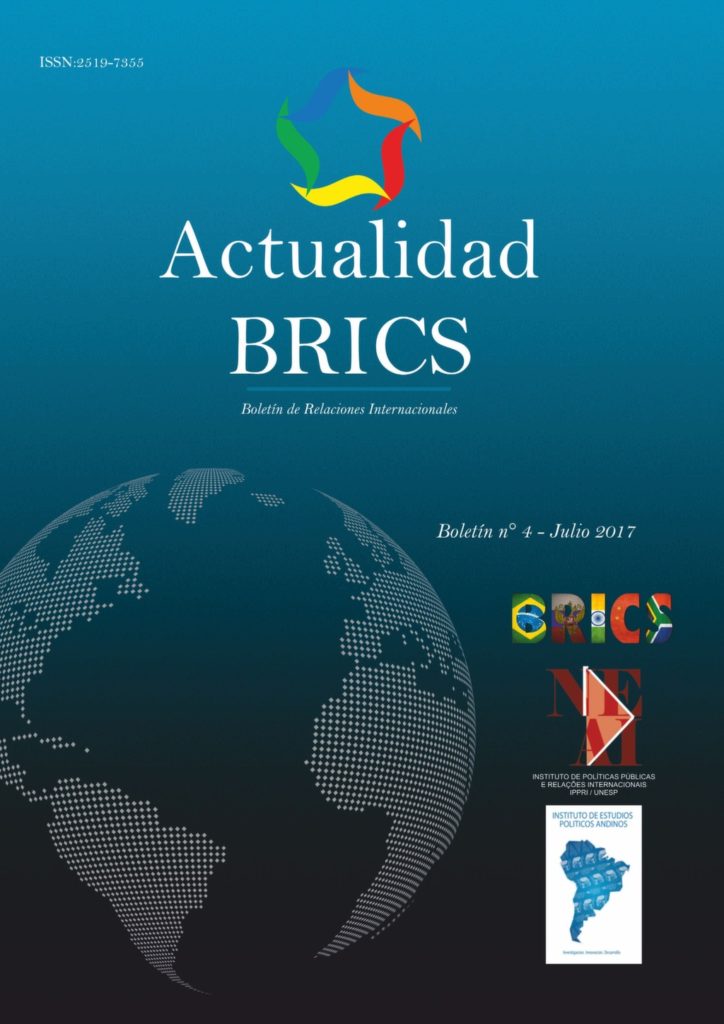Biden assina documento no Salão Oval da Casa Branca. Crédito: CNN Brasil
Na semana passada, em 18 de março, em meio aos recordes diários de mortes por covid-19 no Brasil e à ausência de um plano básico, claro e coordenado de combate à pandemia em nível nacional, o governo de Jair Bolsonaro revelou carta recebida do presidente Joe Biden em 26 de fevereiro. Foi quase um mês de diferença entre o recebimento e a divulgação da missiva, que vem à tona logo após entrevista exclusiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à rede norte-americana CNN sobre a crise sanitária global. Na conversa com a jornalista Christiane Amanpour, Lula pede a Biden doses de vacina para o Brasil e sugere uma cúpula urgente do G20 para tratar da distribuição global e equitativa dos imunizantes contra o coronavírus – ações que vêm faltando a quem cabe por direito e obrigação.
De acordo com nota oficial publicada pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) da Presidência, Biden teria afirmado que “não há limites para o que o Brasil e os EUA podem conquistar juntos”, destacando que “as duas nações compartilham trajetória de luta pela independência, defesa de liberdades democráticas e religiosas, repúdio à escravidão e acolhimento da composição diversa de suas sociedades”. Historicamente, esta tem sido uma assertiva basilar em qualquer discurso de qualquer presidente norte-americano sobre as relações bilaterais, ou que podemos encontrar na fala de qualquer brasilianista, ou americanista. Não sendo uma novidade, este trecho destacado pela Secom pouco informa, portanto.
Um estilo similar de conteúdo foi adotado pelo Planalto, em carta enviada parabenizando o democrata pela posse. Com vários tons abaixo da inflamada retórica usada até então com Biden, o presidente brasileiro se refere a uma relação “longa, sólida e baseada em valores elevados, como a defesa da democracia e das liberdades individuais”, e se compromete a trabalhar pela “prosperidade” e pelo “bem-estar de nossas nações”. Menciona também o desejo de “continuar nossa parceria em prol do desenvolvimento sustentável e da proteção do meio ambiente, em especial a Amazônia”. Aponta ainda que “Brasil e Estados Unidos coincidem na defesa da democracia e da segurança em nosso hemisfério, atuando juntos contra ameaças que ponham em risco conquistas democráticas em noss a região”. Como se vê, trata-se de repertório protocolar e diplomático de grande semelhança familiar e adesão.
Voltando à carta do ex-vice de Barack Obama, ela também teria destacado “a responsabilidade comum dos dois líderes em tornar o Brasil e os EUA mais seguros, saudáveis, prósperos e sustentáveis para as gerações futuras”, saudando “a oportunidade para que ambos os países unam esforços, tanto em nível bilateral quanto em fóruns multilaterais, no enfrentamento aos desafios da pandemia e do meio ambiente”. Esta parte talvez nos ajude a entender por que a carta não foi divulgada a seu momento. Em retrospecto, olhando-se para a política externa brasileira (PEB) de Bolsonaro e de Ernesto Araújo desde janeiro de 2019, é difícil enxergar o outrora gigante e global player em questões ambientais e de saúde (caso do tratamento de antirretrovirais contra a aids, por exemplo) assumindo tais responsabilidades no plano internacional e cuidando das implicações de suas escolhas na PEB na cena doméstica.
Ainda segundo a nota da Secom, Biden teria ressaltado que “seu governo está pronto para trabalhar em estreita colaboração com o Governo brasileiro neste novo capítulo da relação bilateral”. Aqui, encerramos com o óbvio. Biden pensa em termos de política de Estado, e não de governo, e de interesse nacional dos Estados Unidos. Ambos se inscrevem em longas narrativa e linha do tempo – abaladas por Donald Trump, é verdade, mas que agora o democrata se esforça para reorganizar.
Assim, baseando-nos no conteúdo a que se teve acesso (não divulgado na íntegra pelo governo), a carta de Biden não foi uma surpresa para um início de mandato, nem carrega em si grande significado. Também não apresenta indícios de uma guinada brusca nas relações bilaterais – para o bem, ou para o mal. E, se olharmos a data de seu envio, não é exatamente um sinal de prestígio de Bolsonaro, visto que Biden tomou posse em 20 de janeiro, e a carta de congratulações do brasileiro remonta a esta mesma data. O Brasil permanece no radar dos EUA, como sempre esteve e estará, por interesses geopolíticos e estratégicos óbvios, inegáveis e incontornáveis, mas não é prioridade. A fila de pepinos domésticos e da agenda de política externa norte-americana é grande. Se uma variante brasileira da covid-19 for identificada nas terras mais ao Norte, quem sabe se avance algumas posições. Mas, neste caso, é melhor torcer para que não.
Em seu texto, o democrata cumpriu o protocolo de acenar para um governo que lhe foi hostil desde sua vitória nas urnas, e mesmo antes. Bolsonaro (é bom lembrar) torceu abertamente por seu buddy Trump, reforçou a tese trumpista (nunca comprovada) de fraude eleitoral no pleito na terra da democracia, não condenou a chocante invasão do Capitólio, ignorou a vitória do democrata até o limite da boa convivência diplomática com a ainda potência do hemisfério e mundial. Buscando cortinas de fumaça para divertir dos problemas familiares com a Justiça, ameaçou Biden por seus comentários sobre queimadas na Amazônia. “Quando acabar a saliva tem que ter pólvora”, parlapateou.
O conteúdo de nenhuma das duas cartas encontra eco nas medidas e declarações do Brasil no plano internacional de janeiro de 2019 até o momento. Isso indica, por enquanto, a baixa probabilidade de uma reversão dramática no perfil de seu curso – seja no trato da pandemia, seja no da emergência de qualquer outra catástrofe – para além da escolha política da inação. Ainda bem que Deus é brasileiro.
A ‘ameaça Lula’
Bolsonaro sempre agiu como se estivesse em campanha eleitoral. Neste sentido, nem Lula nem o PT deixaram de ser variáveis políticas ameaçadoras para ele e seu núcleo tanto no nível doméstico, quanto no internacional. Isso também é muito claro na relação com os EUA. Bolsonaro tentou se colocar em um lugar especial com Donald Trump, um lugar que nunca existiu. Foi ignorado pelo empresário e ex-apresentador de reality show, apequenou o Brasil, diminuiu qualquer possível margem de manobra e de barganha do país em uma mesa de negociação bilateral. Fez ofertas e concessões sem exigir contrapartida, e o ganho (se houve) foi ínfimo.
A despeito da narrativa de antiamericanismo que se tenta colar às gestões petistas (não apenas de Lula, mas da ex-presidente Dilma Rousseff também), a realidade não apresenta evidências que a sustentem, para qualquer indicador que se olhe. Seja balança comercial, análise dos discursos de ambos os presidentes, ou do chanceler Celso Amorim e dos ministros subsequentes, número e relevância de memorandos e outros protocolos assinados, agendas e projetos de fato implementados, número de visitas presidenciais e trocas em nível ministerial aqui e acolá. Nunca existiu antiamericanismo da parte de Lula.
Trump visitou a América do Sul uma vez e desembarcou na Argentina de Macri, ignorando seu supostamente mais próximo e potente aliado na região. O republicano George W. Bush e o democrata Barack Obama por aqui estiveram, e Lula os recebeu de forma apartidária. Lula teve reconhecimento em fóruns multilaterais, foi escolhido como “Campeão Mundial na Luta Contra a Fome” pelo programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU, entre outras distinções internacionais. Foi ouvido, ao contrário de Bolsonaro, que isolou o país e para quem as portas se fecham. Até o bom relacionamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com os EUA foi posto em xeque por Jair. Para quem não se recorda, FHC era um interlocutor próximo do então presidente Bill Clinton.
Lula tem um capital político e simbólico internacional que Bolsonaro nunca teve – e nunca terá. Isso explica parte da reação imediata às gestões de Lula sobre a pandemia. Tratou-se, no entanto e infelizmente, de uma resposta primária e precária diante da magnitude da tragédia humana, política, social e econômica em que nos encontramos. Diante da nossa deriva em um mar de mortos e de famílias em luto e em imensa dor. Tratou-se de uma resposta personalista, auto-referente e egoica ao movimento do petista, por quem Bolsonaro se sente (e nunca deixou de se sentir) ameaçado. Uma mudança real de postura sobre a crise sanitária por parte do governo começaria com ações imediatas envolvendo os governadores, o Congresso, a comunidade médica, os fabricantes de vacina, todo país. Ainda se espera por isso.
Qualquer mudança de postura será, portanto, apenas cirúrgica, ad hoc e superficial, como sempre foi desde o dia 1 do governo, e dentro de cálculos eleitoreiros, voltada para interesses muito, muito particulares. Nas poucas vezes em que Bolsonaro pareceu adotar algum comportamento razoável, talvez orientado pelo impacto de pesquisas de opinião, convencido por assessores e/ou pressionado por correligionários e doadores, a tentativa naufragou, com o presidente recuando no próprio gesto recém-feito. Bolsonaro não consegue sustentar por muito tempo o aceitável, o plausível, o básico da boa política.
Dito isso, quantos Lulas são necessários para fazer o governo Bolsonaro agir no meio de uma pandemia? Quanto mil mortos mais o país precisa ter? O que é preciso fazer para cessar o ataque e o desmonte da Ciência no Brasil dos dias atuais?
*Este texto foi publicado anteriormente no site do Observatório Político dos Estados Unidos (OPEU)
**Este artigo não reflete, necessariamente, a opinião do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais (NEAI), do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais (IPPRI/UNESP), nem do OPEU, ou do INCT-INEU.