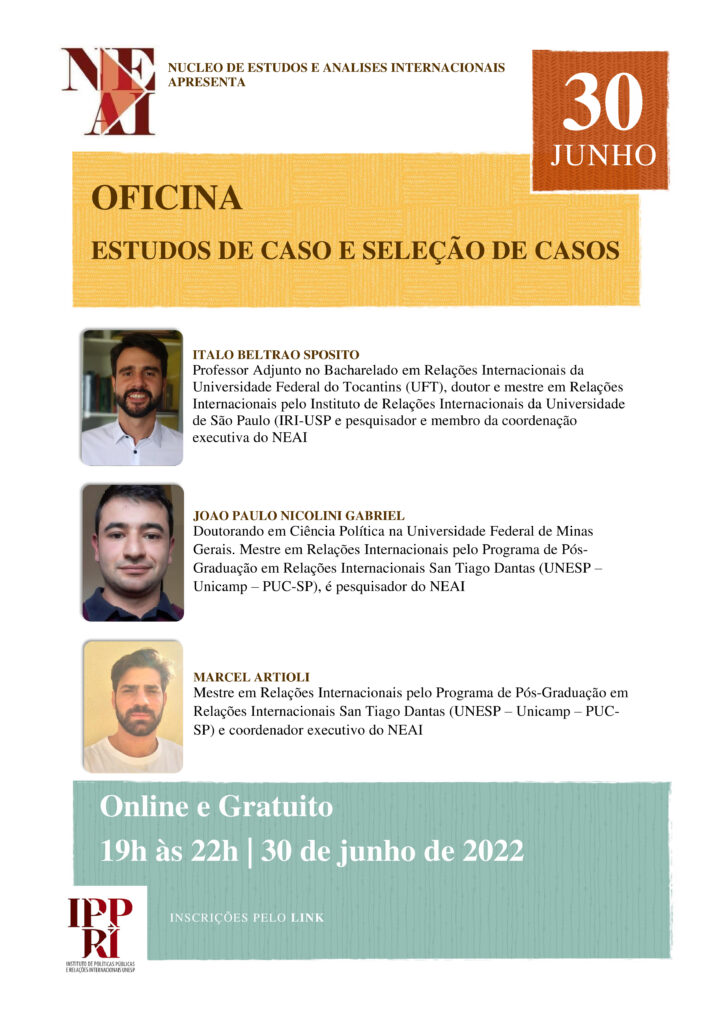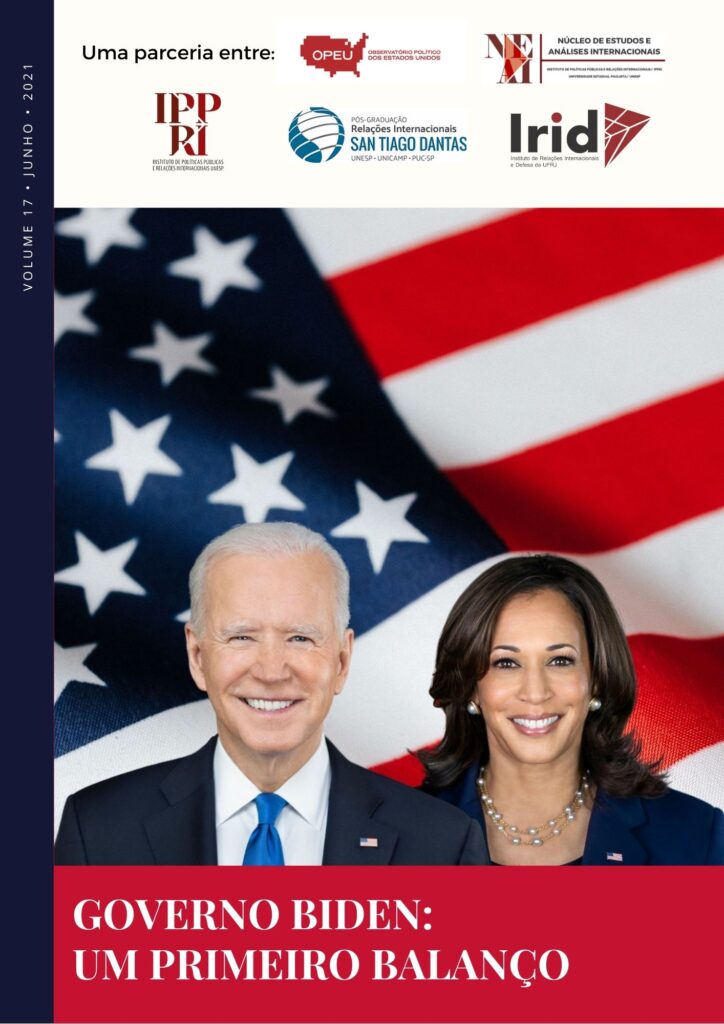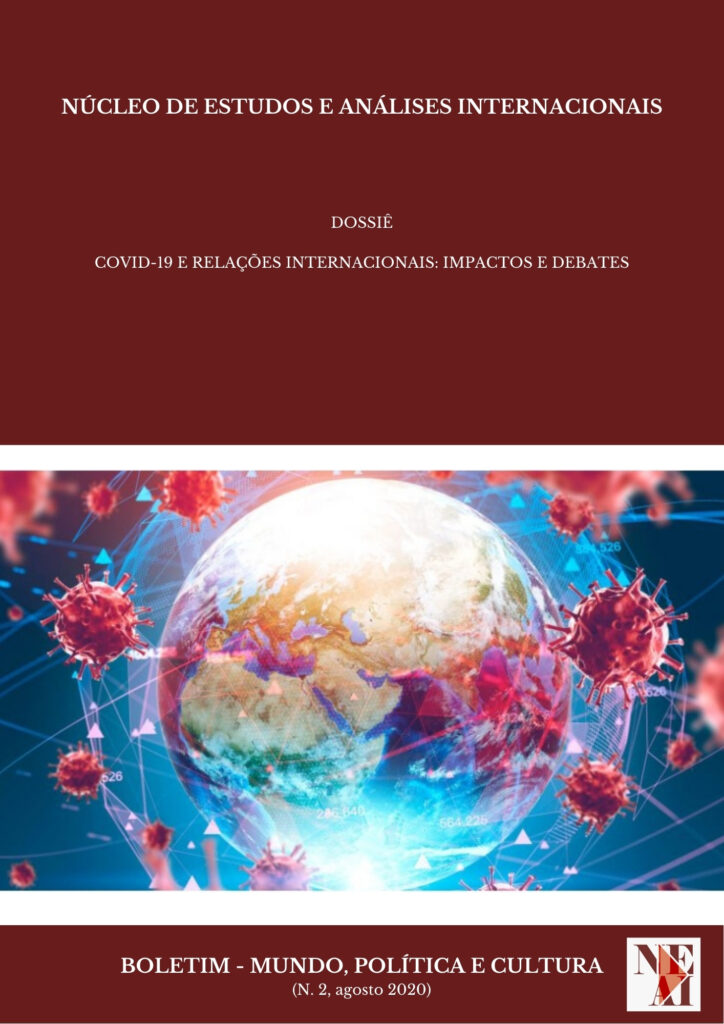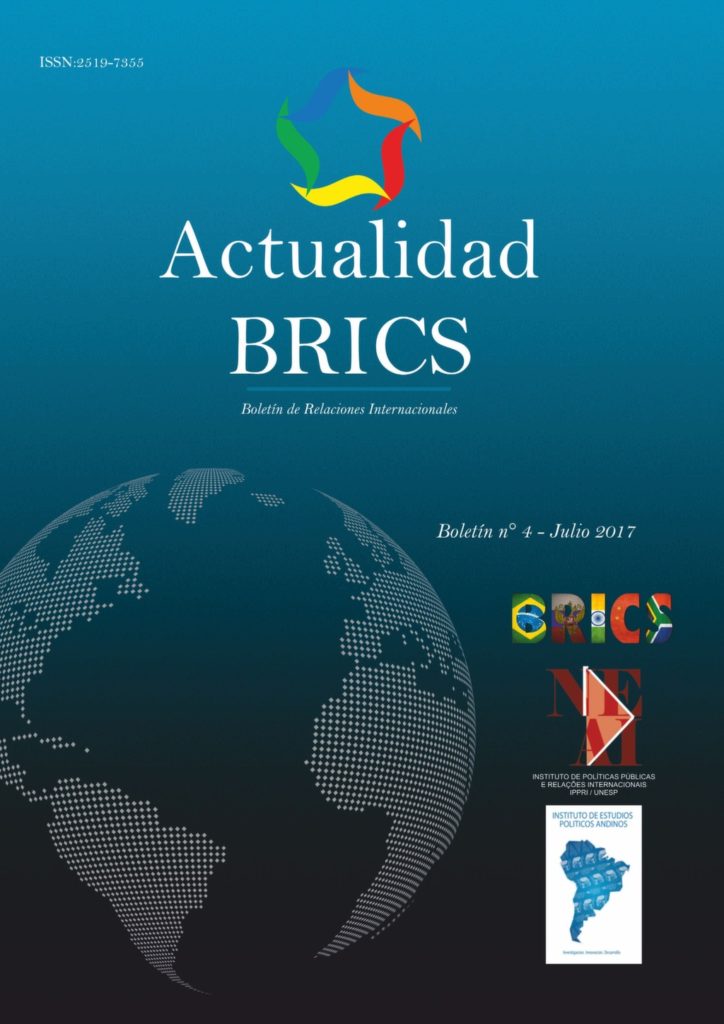Em 2016, as urnas coroaram Donald Trump como o próximo presidente dos Estados Unidos e, com isso, demonstraram a força de ondas associadas a ele em termos do movimento anti-establishment, do voto anti-Obama e do processo antiglobalização, crescente também em outras regiões do mundo. O resultado, embora pouco previsível, deflagrou a profunda crise pela qual passam a sociedade e o sistema político norte-americano – reflexo de um país em transformação, no qual mais da metade da população ainda é branca, de classe média, sem educação superior e que busca se recuperar das mazelas econômicas causadas pela crise de 2008.
Apesar da notável histeria que tomou conta dos mercados, da imprensa e das pessoas, em geral, no Brasil a notícia foi recebida com aparente tranquilidade pelas autoridades. O presidente Michel Temer buscou ressaltar o tom do discurso de conclamação da vitória feito pelo republicano na noite da apuração, enfatizando a intenção de “governar para todos” a que Trump fez referência. Com isso, sugeriu que poderíamos esperar uma mudança de comportamento do presidente então eleito em relação ao candidato já conhecido. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, foi pelo mesmo caminho. Relativizou as propostas polêmicas que Trump fez durante a campanha, sugerindo uma analogia à célebre frase de Didi, o jogador de futebol carioca que eternizou a máxima “treino é treino, jogo é jogo”. Para o ministro, há, também no campo da política, uma desconexão entre o que dizem os políticos durante o processo eleitoral e aquilo que praticam quando estão à frente da administração. Serra disse, ainda, que “nas democracias as decisões do eleitorado se respeitam e se cumprem”, e que o embaixador do Brasil em Washington, Sérgio Amaral, acompanharia de perto a montagem da equipe de governo, as primeiras manifestações em política externa, em política econômica e em política comercial, “identificando e abrindo canais de interlocução com a equipe de transição”, a fim de preservar os interesses brasileiros e de reforçar as relações bilaterais.
Alguns fatores explicam a reação do governo brasileiro em relação ao tema.
Em primeiro lugar, a aposta na continuidade e não na ruptura ocorre porque atualmente o relacionamento entre os países envolve uma agenda modesta que não parece conflitar diretamente com os interesses estratégicos defendidos por Trump. A cooperação não apenas é rasa e concentrada, como também não está amparada em temas que tenham sido controvertidos pelo republicano ao longo do processo eleitoral. Possíveis mudanças nas políticas de imigração e de combate ao narcotráfico causam diferentes efeitos sobre os países latino-americanos, mas têm repercussão limitada sobre o Brasil. O mesmo ocorre em relação a uma possível guinada protecionista no campo comercial. Se por um lado Trump descreveu o Brasil, no decorrer de 2015, como um país que “tira vantagem dos Estados Unidos” (Today, NBC), e disse que ao lado de China, Japão e Índia estaríamos “roubando empregos” norte-americanos (Face the Nation – CBS), por outro vale lembrar que, nas trocas bilaterais, o Brasil é deficitário. Além disso, diferentemente de países como Chile e Colômbia, o Brasil não possui tratado de livre comércio com os Estados Unidos, tampouco está incluído na negociação de mega acordos como o TPP (Trans-Pacific Partnership), que, de forma específica, Trump tem insistentemente condenado.
Em segundo lugar, parece razoável dizer que o governo brasileiro aposta no clima de normalidade porque reconhece que as convergências em determinados projetos englobam uma rede complexa de atores econômicos e políticos que não apenas se beneficiam do status quo, mas também têm significativa capacidade de barganha e adaptação. Isso dá solidez ao relacionamento e faz com que os termos do diálogo bilateral independam, em alguma medida, da troca de governo. Trata-se de um processo que envolve interesses não apenas de agentes estatais (como burocracias, etc), mas também de forças transnacionais diversificadas (inclusive pró-business) que não necessariamente definem seu comportamento de forma coordenada e com base nas preferências de Washington. Aliás, têm razão os que reforçam na análise as limitações impostas pelo sistema de “freios e contrapesos” ao presidente dos Estados Unidos e, consequentemente, a necessidade de negociação constante que ele deve promover para implementar políticas. Apesar de poderoso, o presidente não tem competência para declarar guerras, ratificar acordos ou aprovar o orçamento que contempla os gastos do governo, por exemplo – atribuições exclusivas do Congresso. Isso significa que Trump enfrentará restrições no campo das medidas executivas unilaterais e que decisões polêmicas como a construção de um muro na fronteira com o México, a dissolução do NAFTA (North American Free Trade Agreement) ou mesmo a modificação nas leis imigratórias não serão produzidas com facilidade e nem de forma automática.
As consequências da eleição de Trump para o Brasil tendem a ser, portanto, indiretas. Podem vir por meio da ampliação da presença chinesa na América Latina, como se poderia deduzir da reunião da Asia-Pacific Economic Cooperation, no Peru, com o republicano já eleito, na qual Xi Jinping disse, em um contexto no qual os Estados Unidos sinalizam desengajamento da agenda liberal, que a China seria um “bastião da estabilidade, da previsibilidade e da abertura do livre mercado”. Podem vir, ainda, pelo aumento da instabilidade internacional associada a eventuais escolhas em política externa da doutrina Trump ou mesmo por uma possível pressão inflacionária e sobre os juros nos Estados Unidos, o que pode afetar o fluxo de divisas, o câmbio e o ritmo da atividade econômica no Brasil. Não são notícias necessariamente trágicas, mas estão longe de serem reconfortantes.
A pior das consequências da eleição de Trump para o Brasil e para outros tantos países, porém, encontra-se no campo simbólico. Isso porque a vitória de uma narrativa populista e preconceituosa em um país influente como os Estados Unidos pode desencadear um ciclo legitimador para a emergência e fortalecimento de outras lideranças radicais mundo afora. Não há muito para comemorar.
(Texto também publicado pela Fundação Espaço Democrático)