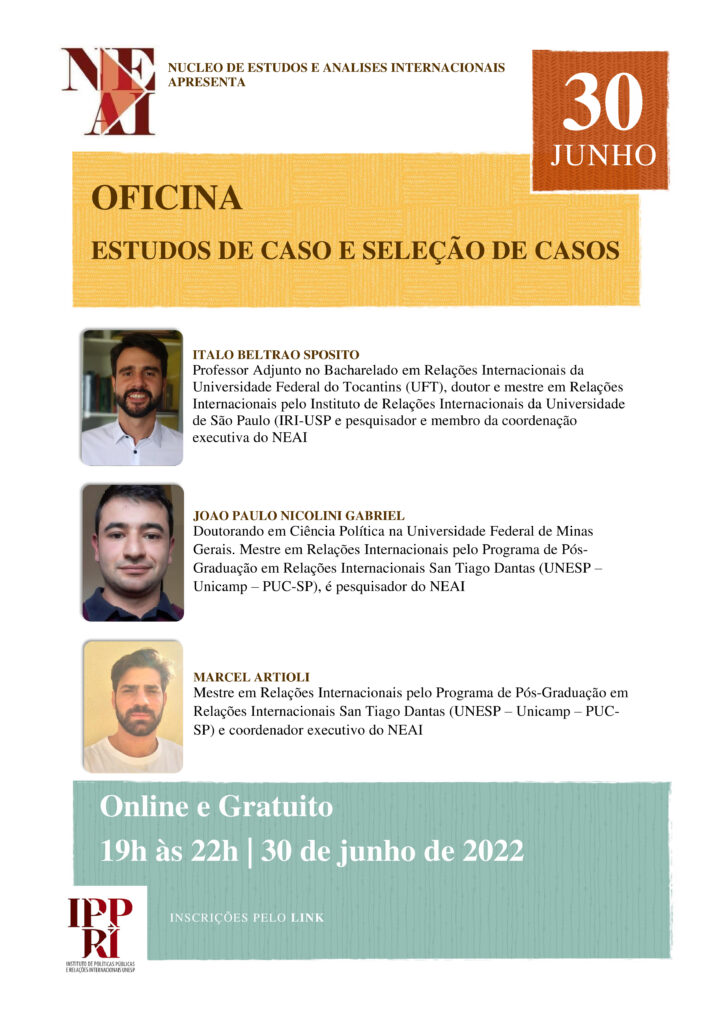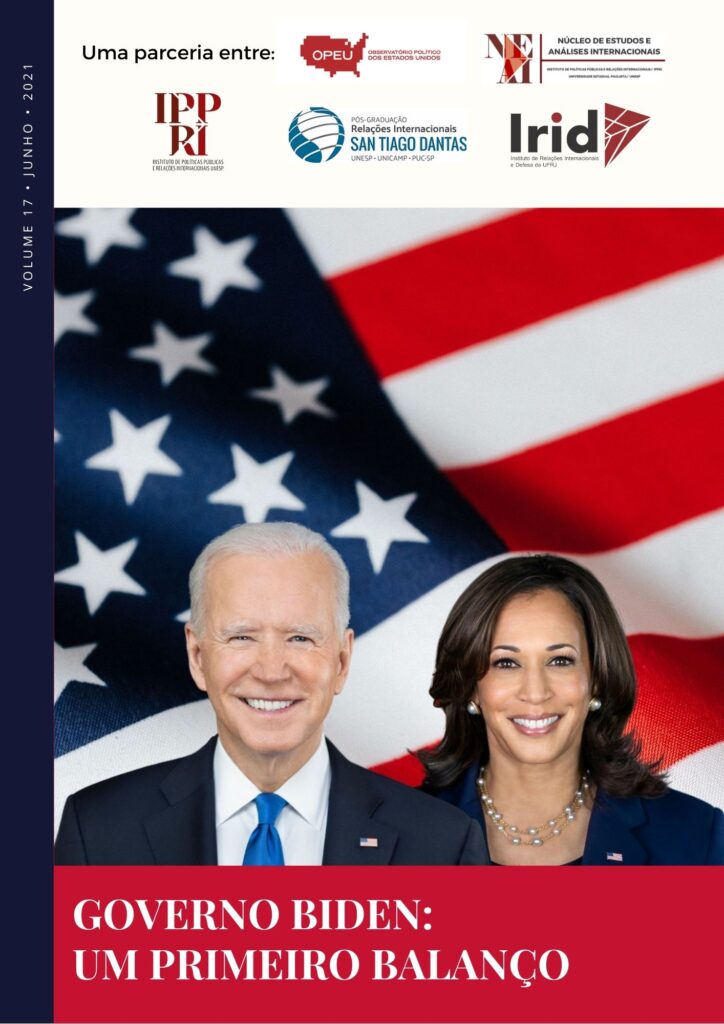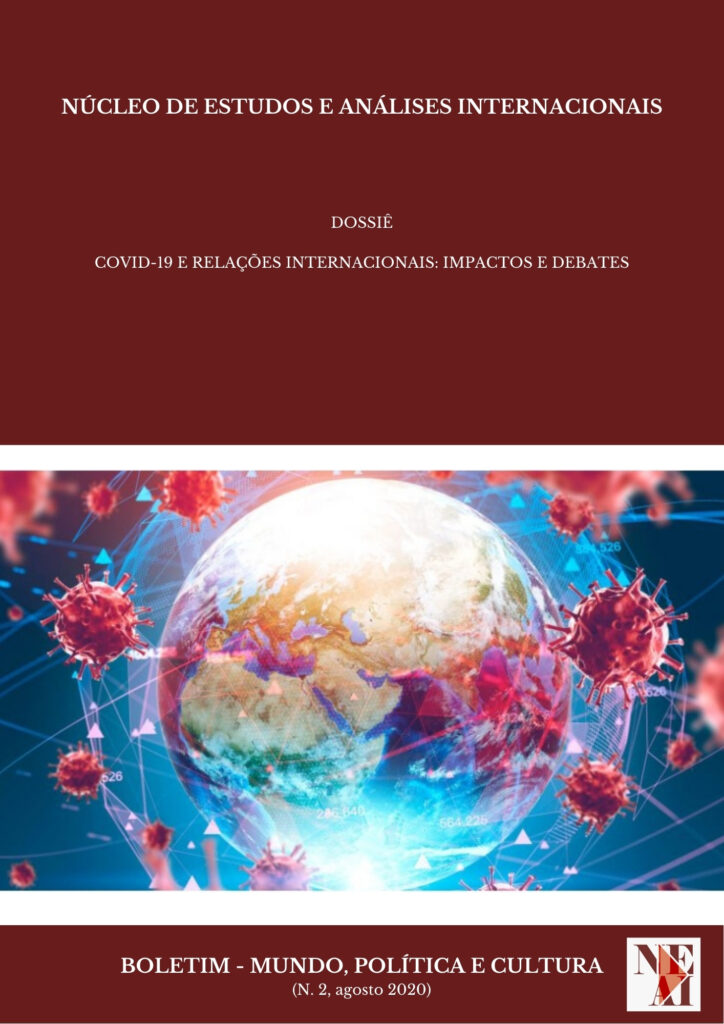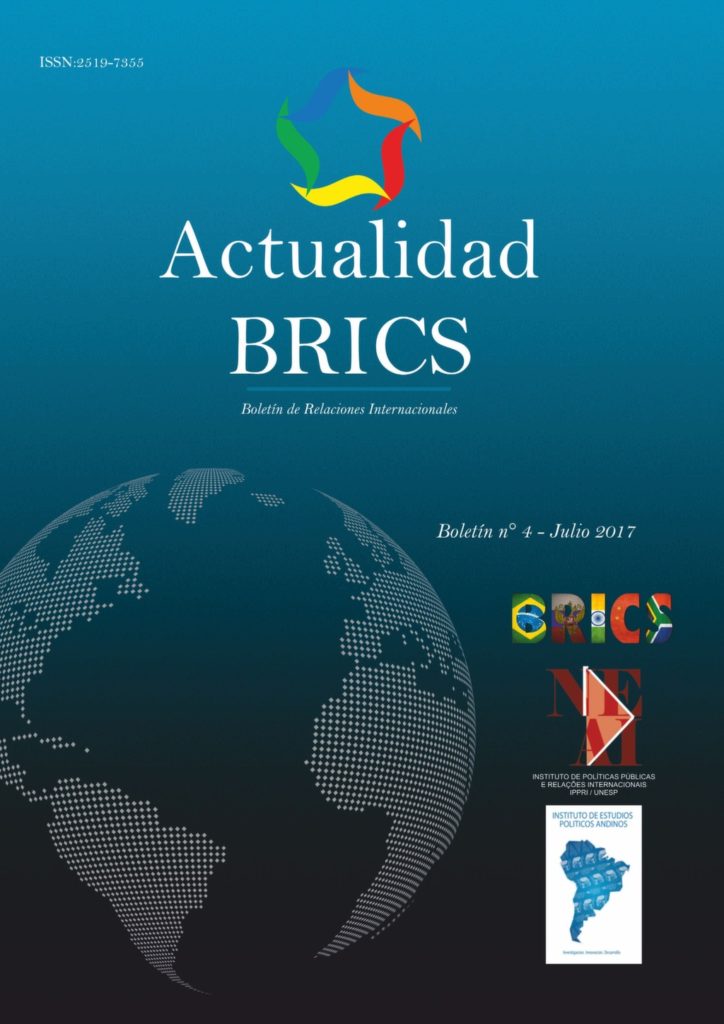Guilherme Casarões
Professor de Relações Internacionais da EAESP/FGV e da ESPM.
Versão ampliada e adaptada de texto publicado no Blog Gestão, Política e Sociedade, do jornal O Estado de S. Paulo, em 3 de março de 2017.
Depois de uma semana de impasse após a súbita renúncia do senador José Serra, Aloysio Nunes foi confirmado como o novo Ministro das Relações Exteriores. As especulações que antecederam a indicação deixaram claro que não se tratava de um nome pacífico: enquanto setores do PSDB preferiam ou José Aníbal, mais próximo a Geraldo Alckmin, ou Antonio Anastasia, da “bancada mineira” do governo, muitos torciam por alguém da carreira, ainda que ligado ao tucanato.
A indicação revela que o ministério transformou-se em reduto político do PSDB. Mais que isso: trata-se, hoje, da pasta mais importante a cargo da legenda, nas mãos da ala “serrista” do partido. Não deixa de ser uma ironia, considerando as reiteradas críticas que os próprios tucanos fizeram à “partidarização” da política externa ao longo dos anos Lula e Dilma.
Sendo a política externa uma política pública como qualquer outra, ela está igualmente sujeita à correlação de forças que caracterizam o jogo político democrático, ainda que sob diferentes equilíbrios entre atores internos e externos.
É bem verdade que a política externa possui especificidades que dizem respeito a seu tempo (o horizonte de longo prazo), espaço (o sistema internacional) e meios (a diplomacia, corporificada na carreira própria do Itamaraty). Mas dois mitos comuns a esse respeito, muito repetidos no calor do debate político, devem ser desfeitos. Um é o de que a boa política externa não pode ser ideológica. Outro é que a boa política externa deve ser conduzida por um chanceler que venha da carreira diplomática.
Ao contrário do que defendem José Serra e seus correligionários, não é possível falar em política externa sem ideologias. São elas que dão conteúdo ao que, no abstrato, convencionou-se chamar de “interesse nacional”. Mesmo que os operadores da política externa não se orientem por cálculos político-partidários, as grandes linhas de inserção global do país são marcadas lastro ideológico. E, em princípio, não há qualquer problema nisso.
Pensemos, por exemplo, nos grandes paradigmas que orientaram a política externa brasileira republicana: americanismo e universalismo. O primeiro representou traço de continuidade da inserção brasileira ao longo de praticamente toda a primeira metade do século 20. O segundo animou a diplomacia de governos tão distintos quanto os de Jânio Quadros, João Goulart, Ernesto Geisel e José Sarney. Ainda que o objetivo maior por trás destas estratégias tenha sido, em linhas gerais, a promoção do “desenvolvimento nacional”, elas representam distintos meios cujo sentido orienta-se por considerações ideológicas.
Nos últimos trinta anos, tais paradigmas foram redefinidos, diante da crescente complexidade das relações internacionais (e da realidade brasileira). Os americanistas de outrora foram assumindo um discurso liberal mais abrangente, em favor de regimes internacionais e da abertura econômica. Os universalistas ganharam contornos nacionalistas, a partir da chave da autonomia. No debate atual, ninguém nega que o horizonte da política externa seja o desenvolvimento, ainda que haja divergências sobre que caminho tomar. A escolha segue sendo essencialmente ideológica.
O segundo ponto diz respeito à predileção natural por chanceleres vindos da carreira diplomática. Utiliza-se esse argumento para reforçar uma ideia de que, desde o impeachment, Temer e o PSDB estariam “loteando” o Itamaraty. É sempre importante frisar que a estrutura do ministério e da carreira diplomática não permite seu aparelhamento – e isso vale para qualquer governo.
Além disso, a nomeação de políticos para a chancelaria não é um absurdo histórico. Pelo contrário: foi a regra até o regime militar, quando tivemos, pela primeira vez, uma longa sucessão de ministros provenientes da carreira. Essa configuração serviu bem ao Itamaraty, que se preservava como “instituição de Estado” sob o autoritarismo, assim como ao próprio regime, que se legitimava pela indicação de quadros de competência técnica.
Com o advento da Nova República, o cargo de chanceler retornou ao jogo político. Olavo Setubal e Abreu Sodré entraram pela cota do PFL na chancelaria de José Sarney. A indicação de Celso Lafer, professor e jurista filiado ao PSDB, foi a maneira encontrada por Fernando Collor de aproximar-se do partido, nos estertores de seu mandato. O próprio Fernando Henrique Cardoso compôs, desde o Itamaraty, a cota tucana do governo Itamar Franco.
Os nomes, claro, não são comparáveis. A única coisa que os une é a filiação político-partidária. Mas a lição extraída é a de que um político no comando das Relações Exteriores não é exceção nem equívoco. Tudo dependerá, como de praxe, da capacidade do chanceler em exercer liderança sobre o serviço exterior, de sua habilidade de articulação com outros ministérios – cada vez mais crucial –, bem como do imprescindível alinhamento entre Planalto e Itamaraty.
José Serra acertou em um destes quesitos e falhou nos outros dois. Fez bom uso de seu capital político para recuperar o orçamento do MRE, dilapidado nos anos Dilma, e para redesenhar a chamada “diplomacia comercial”. Sua relação com o ministro Raul Jungmann proporcionou uma coordenação frutífera na área de Defesa.
Por outro lado, sua determinação em utilizar o Itamaraty como plataforma política para a corrida presidencial de 2018, amplamente frustrada pelo ritmo usualmente lento do labor diplomático, desgastou sua relação com os servidores da carreira, que esperavam dele maior engajamento com os temas substantivos da agenda internacional. A maneira como conduziu as relações com países sensíveis à política externa brasileira, como Venezuela e Israel, esbarrou nos interesses presidenciais.
Embora represente a continuidade política de Serra, Aloysio Nunes não enfrentará tais dificuldades. Sem as mesmas pressões eleitorais, terá a chance de resgatar o ativismo da política externa sem necessariamente rechaçar o acumulado institucional e diplomático deixado pelos governos do PT.
Contando com a experiência acumulada em dois anos à frente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, poderá envolver-se integramente com temas importantes para a recuperação econômica do país, como a relação com os Estados Unidos ou com a União Europeia, no contexto incerto de profundas transformações políticas.
Em primeira análise, o sucesso do novo chanceler dependerá da superação de três possíveis entraves.
O primeiro deles é seu temperamento, que muitos acreditam ser incompatível com a chancelaria. Pululam, nas redes sociais, frases comprometedoras do senador, a mais grave delas dizendo que Donald Trump, que acabara de se eleger presidente dos EUA, era “o partido republicano de porre”. É difícil aferir que tipo de impacto isso pode trazer, mas a tendência é que isso não impacte sobre o bom exercício do cargo. O mais provável é que a chancelaria seja capaz de moldar Aloysio Nunes ao tipo de conduta típica da diplomacia.
O segundo é o peso das disputas partidárias, que não podem prevalecer sobre o pragmatismo necessário às escolhas estratégicas. Ainda que seja igualmente comprometido com o governo Temer e com a narrativa da legalidade do processo de impeachment, Aloysio não deverá cometer o mesmo equívoco de seu antecessor, que se dedicou excessivamente a desconstruir a narrativa petista da política externa, sem oferecer uma linha clara de inserção internacional.
Por fim, respondendo a inquérito no STF por suposto ilícito na sua prestação de contas da campanha ao Senado em 2010 e citado em delação de Ricardo Pessoa, da empreiteira UTC, o novo chanceler terá que dar provas de sua probidade, para além da competência técnica. Esse é um desafio particularmente importante, uma vez que dele depende o resgate da credibilidade internacional não somente do governo, mas de importantes setores econômicos brasileiros.
Todo o resto estará condicionado aos imponderáveis ventos do mundo e a uma visão de longo prazo que se espera de todo chanceler – e que este governo, preso na areia movediça da crise política, ainda não conseguiu demonstrar.