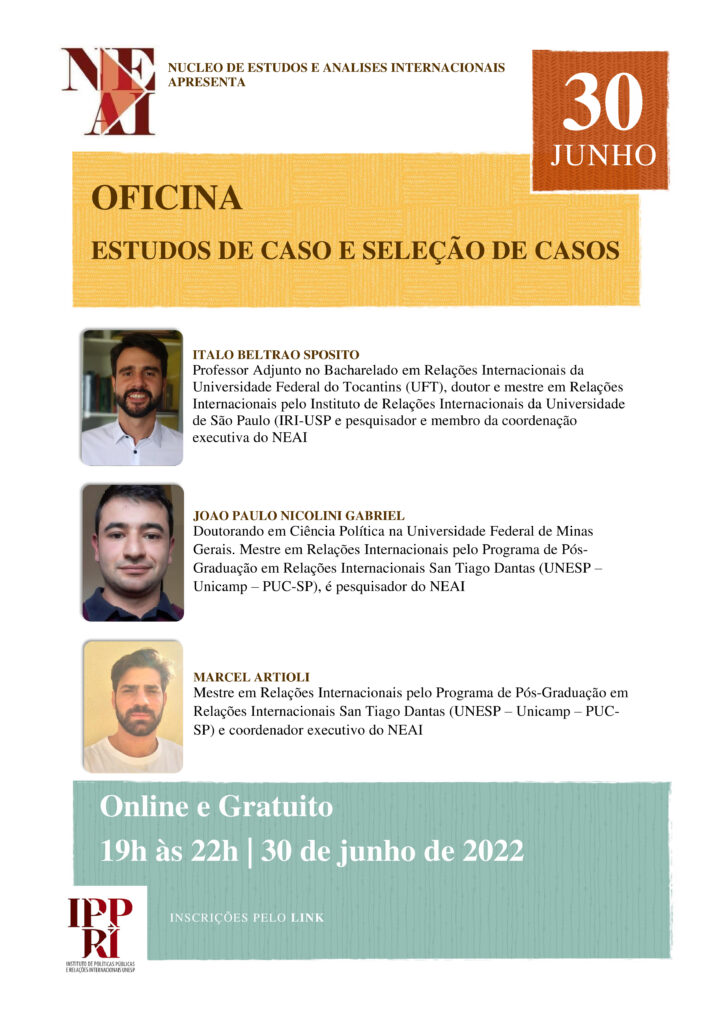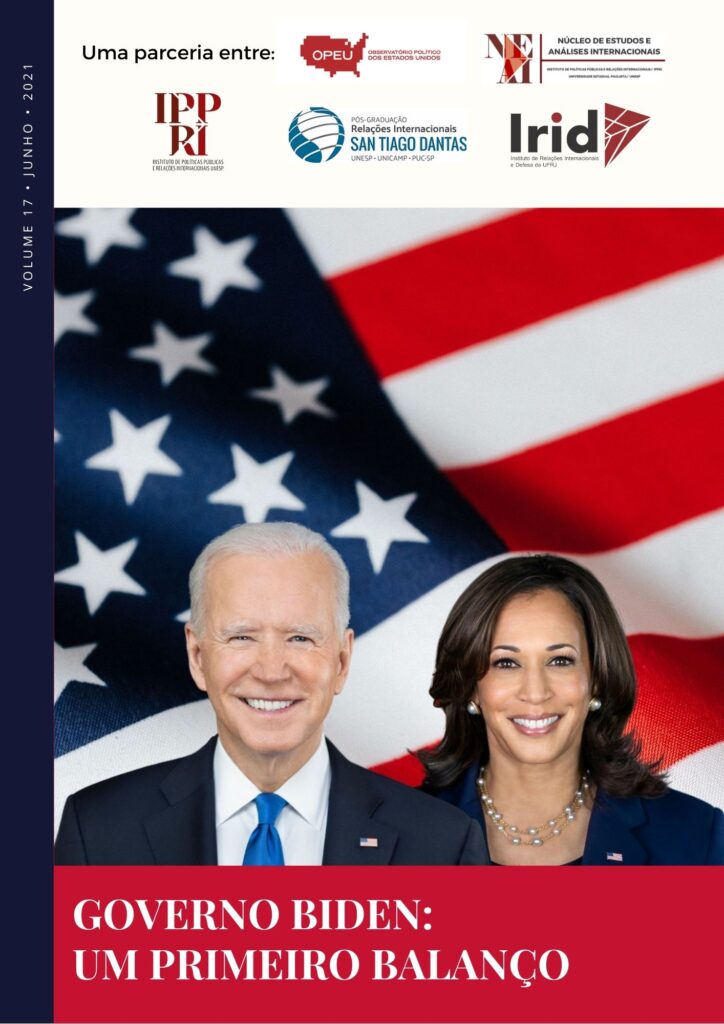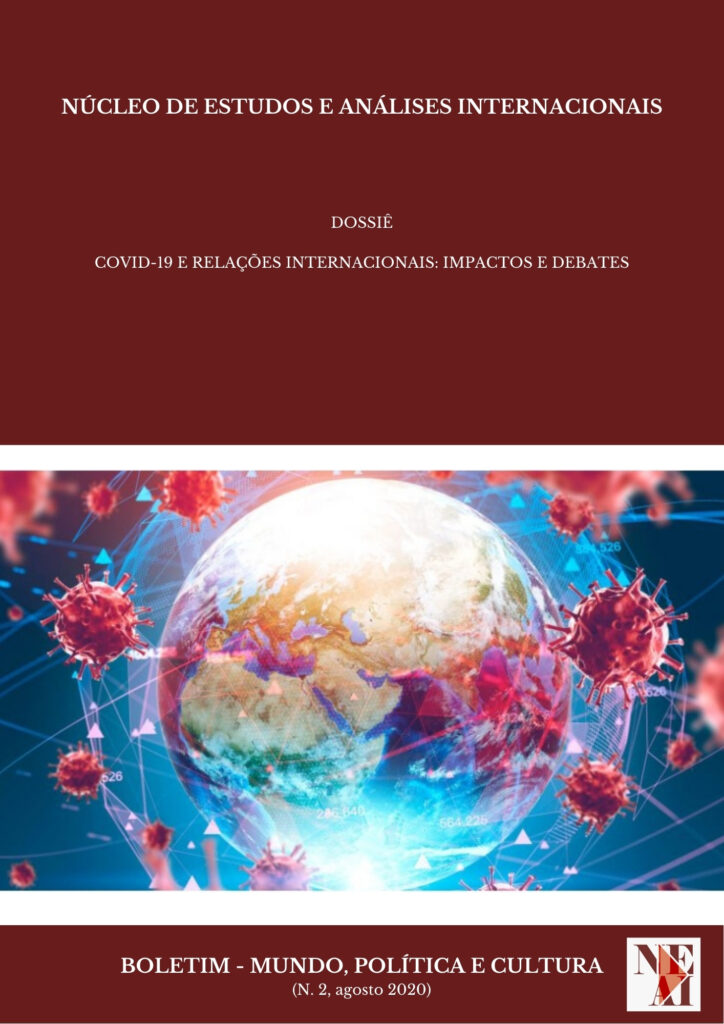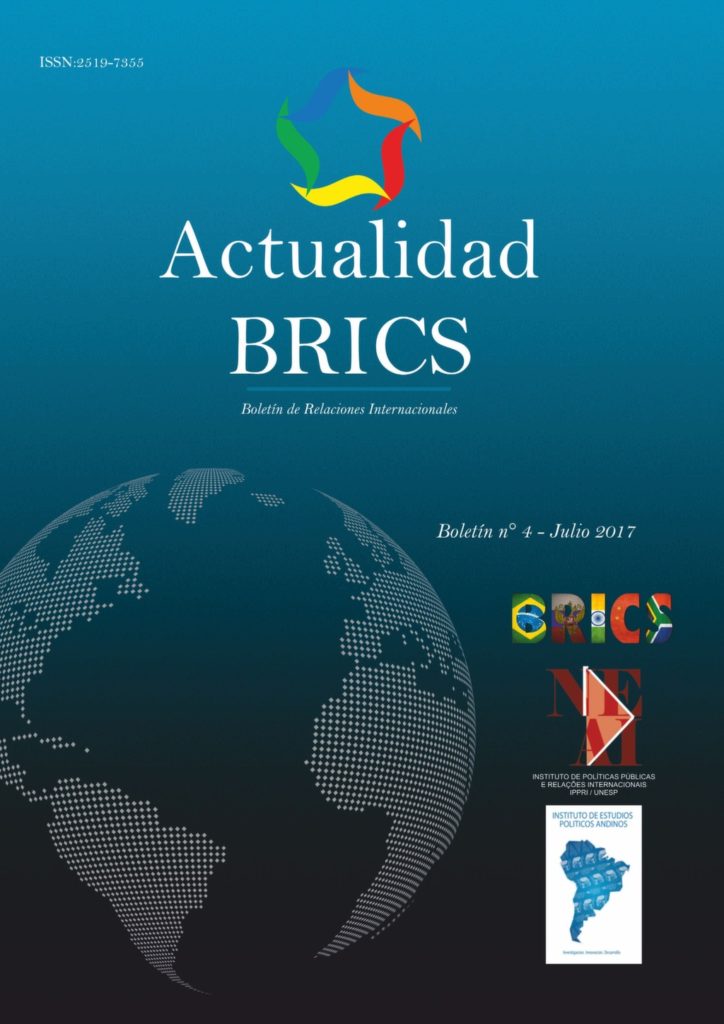No primeiro artigo desta série, sustentei a hipótese de que temos hoje, à disposição, uma “plataforma teórica” para explicar o mundo atual, que assiste à expansão da globalização socioeconômica e cultural sem poder dispor de um “Estado global”. Trata-se de uma plataforma para a qual convergem grandes pensadores contemporâneos, de Bauman, Beck e Giddens a Habermas, Bobbio, Castells, Lipovetsky e Touraine, para citar alguns bem conhecidos. Ainda que trabalhem com programas intelectuais distintos e não compartilhem os mesmos posicionamentos políticos, tais pensadores alimentam a plataforma com mais pontos de acordo que de desentendimento.
Não tenho qualquer pretensão de ir ao limite da análise teórica nem muito menos esgotar a apreciação desta hipótese. A intenção, aqui, é tão-somente sugerir um caminho para aumentar a produtividade de nossas discussões, buscando apresentar algumas linhas mestras do trabalho de alguns autores, como foi o caso, no primeiro artigo, de Beck e Castells.
A “constelação pós-nacional” de Jürgen Habermas também dialoga frontalmente com a plataforma teórica sugerida pela constatação feita por Beck de que a “segunda modernidade” se afirmava em um cenário no qual uma sociedade mundial se constitui sem ser acompanhada por um Estado mundial.
A progressiva afirmação desta “constelação” não supõe o “fim do Estado nacional”, tese que o filósofo alemão considera imprópria e ambígua. Mas implica, ao menos em termos lógicos, a abertura de uma era de soberania compartilhada, na qual os Estados-nação não podem mais ser concebidos como unos e indivisíveis, nem como arranjos que disponham do controle categórico sobre suas fronteiras e seus territórios, como acontecia na “primeira modernidade”.
A matriz reflexiva habermasiana, nesta questão, é uma resposta a mais ao desafio político de pensar o mundo (as relações internacionais) e o processo democrático para além do Estado nacional. A nova constelação emergente traz consigo uma alteração nas condições de legitimação e de funcionamento das democracias, que – como regime e como ideia – ainda se apoiam largamente na figura do Estado nacional. “As nossas sociedades compostas com base no Estado nacional, mas atropeladas pelos impulsos de desnacionalização, ‘abrem-se’ hoje diante de uma sociedade mundial inaugurada pelo âmbito econômico.” (HABERMAS, 2001, p.79).
Competências de níveis nacionais entram muitas vezes em atrito com competências internacionais, desidratando os sistemas políticos e complicando dramaticamente tanto os processos de legitimação quanto a soberania. “No âmbito de uma economia globalizada, os Estados nacionais só podem melhorar a capacidade competitiva internacional das suas ‘posições’ trilhando o caminho de uma autolimitação da capacidade de realização estatal; isto justifica políticas de ‘desconstrução’ que danificam a coesão social e que põem à prova a estabilidade democrática da sociedade”. (idem, p. 67). Em outros termos, ao autolimitarem sua capacidade de realização, os Estados nacionais são forçados a abrir mão de sua soberania e de suas possibilidades de agir sobre a sociedade, com o que a convivência social perde coesão e direcionamento. O esforço para se contrapor à força do mercado, “civilizar” a vida, repor a coesão social e “domesticar” a violência fica, assim, na dependência tanto da colocação em curso de processos de integração (como a União Europeia), quanto sobretudo da democratização desses processos no âmbito global e da criação de culturas políticas pós-nacionais. “Só poderemos enfrentar de modo razoável os desafios da globalização se conseguirmos desenvolver na sociedade novas formas de autocondução democrática dentro da constelação pós-nacional”. (idem, p. 112).
O desafio passa a ser, portanto, compatibilizar interesses nacionais remanescentes e interesse global em plena vigência. Por extensão, trata-se de uma situação em que espaços e funções de origem nacional precisam conviver e interagir com uma comunidade mundial constituída como estrutura, mas desprovida de um “governo mundial” revestido de legitimidade e de capacidade de coordenação. A ausência de uma instância governamental em escala global termina, assim, por permitir que funções e possibilidades de ação até então típicas dos Estados nacionais sejam usurpadas ou inviabilizadas por poderes supranacionais.
Estados, governos, administrações e instituições nacionais terão de se compor com instituições e processos supranacionais de modo a que todos se vejam como membros de uma comunidade e aceitem que precisarão levar em conta reciprocamente os interesses uns dos outros. Em outras palavras, o desafio passa a ser o de praticar “uma política interna mundial sem um governo mundial” (idem, p. 139). A prevalência democrática desta “política interna mundial” implica, em boa medida, a superação da ideia vigente de relações internacionais, na medida mesma em que promove a diluição dos atores tipicamente nacionais. Trata-se de um projeto factível desde que os cidadãos ainda nacionais façam prevalecer seus interesses e suas convicções, indo além das escolhas governamentais e atuando de modo a adensar política e comunicativamente a sociedade civil, que poderá assim ser reposta e funcionar como referência para organizações políticas democráticas. Partidos políticos que ainda julgam possuir “força para configurar a sociedade” devem buscar antecipar, no âmbito nacional – “o único no qual podem atuar agora” –, a esfera de ação cosmopolita. (idem, p. 142).
Parte ponderável das dúvidas e incertezas referentes aos efeitos da soberania compartilhada no âmbito de um sistema global deriva do fato de que tal sistema não se institucionalizou por completo: ele ainda é, em boa medida, um vir-a-ser, sujeitando-se portanto à interferência de muitos sujeitos e processos, bem como a falhas e turbulências frequentes. Suas instituições e seus personagens – todos, sem exceção, da esquerda à direita – encontram-se em fase de adaptação a um mundo que se transforma com rapidez. Os problemas globais ficam, assim, bem mais difíceis de ser assimilados. A “ideia de que uma sociedade pode agir sobre si de modo democrático só foi implementada de modo fidedigno até agora no âmbito nacional”. Precisamente por isso, “[…] a constelação pós-nacional desperta aquele alarmismo infrutífero da desorientação iluminista que observamos em nossas arenas políticas.” (idem, p.78).
Não se trata, evidentemente, de uma reação insensata. A nova disposição em rede e a própria dinâmica da sociedade informacional não produzem, automaticamente, “mundos da vida” mais coesos e integrados, mas, ao contrário, podem forçar grupos e indivíduos a se “dispersarem como mônadas por redes que se estendem pelo mundo e são coordenadas funcionalmente”, ou seja, a fugirem de arranjos em “unidades políticas maiores e mais estratificadas” (idem, p. 112). Como Habermas escreveu em outro ensaio, “embora o crescimento de sistemas e redes multiplique os contatos e informações possíveis, ele não tem como consequência per se a ampliação de um mundo intersubjetivamente partilhado, nem tampouco a união discursiva de pontos de vista relevantes, temas e contribuições, dos quais surgem grupos de opinião pública de caráter político”. (HABERMAS, 2002, p.138).
A partir de um registro teórico completamente diferente, Fareed Zakaria também dialoga com a mencionada plataforma teórica, ao insistir na tese de que o mundo estaria se tornando “pós-americano”, na medida em que as potências tradicionais ficam cercadas pela “ascensão do resto” – ou seja, os muitos atores que não são nações, os movimentos, as ONGs, as redes e carteis de criminalidade e sobretudo as grandes transnacionais — e veem seu poder ser deslocado ou reduzido. O sistema internacional se torna híbrido, mais democrático, mais dinâmico, mais aberto e conectado, e nele as potências (os EUA) declinam economicamente e perdem força relativa, ainda que continuem a ser poderosas. Neste “novo” sistema, todos agem e pesam: o centro e o “resto”, as grandes, as médias e as pequenas potências, as regiões, os Estados e os atores não-estatais, os lugares e as pessoas, em suma, “grupos e indivíduos ganharam poder e a hierarquia, a centralização e o controle estão sendo minados. (…) O poder se afasta dos Estados-nações, para cima, para baixo e para os lados. Nessa atmosfera, as aplicações tradicionais do poder nacional, tanto econômicas quanto militares, tornaram-se menos eficazes” (ZAKARIA, 2008, p. 14). Todos se tornam dependentes de todos e de tudo, o tempo todo.
Seriam muitos os autores a serem incorporados a esta discussão e aqui não é o local para se delinear um mapa intelectual a respeito do mundo globalizado. Gostaria, porém, de frisar que um dos aspectos mais importantes desta vasta área de reflexão passa pelo reconhecimento de que as novas relações de poder que se estabelecem no espaço global, ao se combinarem com as mudanças que ocorrem na estrutura de cada sociedade nacional, produzem múltiplos efeitos sobre os Estados-nação e desorganizam seus sistemas políticos, afetando inevitavelmente a democracia mediante a exacerbação de seus paradoxos. Com isto, os Estados perdem força para plasmar democraticamente o sistema internacional, bloqueando a passagem de um “sistema de hegemonia” (no qual se reitera a prevalência de uma ou duas grandes potências) para uma ordem democrática integrada por Estados democráticos, uma comunidade democrática de Estados. Ainda que o número de “Estados democráticos” tenha aumentado muito nas últimas décadas, o processo de democratização do sistema internacional não avançou de modo categórico. Fato que pode sugerir que a “má qualidade” das democracias nacionais está a cobrar um preço.
Não é por outro motivo que o debate teórico contemporâneo voltou a dar atenção ao problema da crise da democracia, tema que, a rigor, esteve sempre no centro das discussões ao menos desde que o Welfare State passou a apresentar sinais de mau funcionamento, provocados tanto pelos ataques do mercado e do neoliberalismo, quanto pelas novas exigências da sociedade pós-industrial e pelos problemas de financiamento do gasto público, para dizer o mínimo.
Em um primeiro momento, a questão da crise da democracia foi associada ao problema da governabilidade em sociedades complexas e ao tema do “excesso” de demanda derivado da própria dinâmica democrática, que provocaria uma espécie de infarto dos sistemas dedicados a fornecer respostas às reivindicações dos cidadãos. Formulações abertamente conservadoras passaram a sugerir que, para manter a democracia em funcionamento “razoável”, seria preciso reduzi-la a patamares “suportáveis” e mais compatíveis com as possibilidades de atendimento do Estado e os interesses do mercado, ou seja, mantê-la em nível mínimo, mais formal que substantivo, reprimindo a demanda social e combatendo a contestação política. Em nome da “ingovernabilidade das democracias”, propôs-se um recuo e uma diminuição do Estado como expediente para dar livre curso ao mercado. Um alegado “excesso” de Estado foi, assim, empregado para atacar o Welfare State e o ataque terminou por alimentar diferentes modalidades de rebaixamento da democracia.
A mais famosa versão deste posicionamento foi o célebre relatório The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies redigido por Michel Crozier, Samuel Huntington e Joji Watanuki, em 1975, no âmbito da Comissão Trilateral, organismo criado por empresários e intelectuais conservadores dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e do Japão. Integradas por diretores de multinacionais, banqueiros, políticos, especialistas em política internacional e acadêmicos, as reuniões da Comissão ficaram conhecidas pela preocupação enfática em denunciar os “excessos da democracia” e por funcionar como um órgão privado de consulta e orientação para influenciar a política internacional dos países da tríade e para o desenvolvimento de propostas práticas de ação conjunta. Por trás da fachada acadêmica, ocultava-se também a busca de proteção para os interesses das multinacionais ao redor do mundo e uma concertada pressão para formatar decisões de dirigentes políticos de vários países.
A Trilateral bateu-se, desde então, por uma linha de argumentação em que a “crise de governabilidade das democracias” se combinava com a valorização dos temas globais, compondo uma agenda em que constavam desde a reforma das instituições internacionais e a globalização dos mercados até a liberalização das economias e o endividamento dos países pobres. A ideia era defender a constituição de uma “nova ordem internacional” que fosse mais forte do que as economias nacionais e pudesse, por isso, pautá-las. A hipótese apresentada na nota introdutória do documento dialogava com uma das máximas da reflexão clássica sobre relações internacionais: “a vitalidade dos sistemas políticos [nacionais] é uma precondição central para formatar uma ordem internacional estável e modelar relações mais cooperativas entre as regiões”.
Muito do que se passou a identificar como neoliberalismo nasceu no âmbito da Trilateral. A estabilidade mundial dependeria de uma reforma do sistema internacional que reconhecesse a força do mercado, “soltasse” as economias nacionais de seus Estados e reiterasse a preponderância dos países mais ricos. A posição implícita questionava as soberanias nacionais e as medidas protecionistas, em nome de uma globalização financeira e de um livre-comércio internacional que impulsionariam a melhoria das condições de vida da maior parte da população mundial. As democracias nacionais teriam, assim, de ser ajustadas para poderem contribuir para a plena configuração deste cenário.
O Relatório da Comissão de 1975 argumentava, antes de tudo, que a própria vitalidade das democracias terminava por produzir excessos e corroer a autoridade política, gerando ingovernabilidade. Intervenções estatais motivadas por orientações políticas democráticas ajudavam significativamente a fazer com que as demandas crescessem, sobrecarregando os governos. A democracia estaria também “fora de controle” na medida em que incentivaria a competição política desmesurada, com a consequência de que isso faria os sistemas políticos ficarem com menos capacidade de agregar interesses e processar demandas cada vez mais fragmentárias.
As perspectivas seriam então sombrias. As democracias realmente existentes não se mostravam preparadas para confrontar as mudanças econômicas, sociais e tecnológicas em curso. Havia mais “interação humana” e mais “pressão social”, e o progresso material turbinava tudo, fazendo com que tensões e conflitos crescessem, dificultando a “ordem”. A própria expansão democrática conspirava contra a democracia, fazendo com que certos “inimigos intrínsecos” se voltassem contra ela. O colapso parecia iminente, impulsionado por uma dinâmica de “desintegração da ordem civil” e de “enfraquecimento dos líderes”. Ou se introduziam algumas reformas inovadoras ou a democracia futura se mostraria inviável.
Na introdução do relatório, a recomendação era clara: “Quanto mais democrático é um sistema, mais ele é posto em perigo por ameaças intrínsecas. Democracias devem ser capazes de evitar, moderar e assimilar mudanças de contexto para se tornarem viáveis”. (p. 8). Nas circunstâncias de então (anos 1970), para a Comissão, uma combinação diabólica e simultânea de “ameaças contextuais, tendências societais e desafios intrínsecos” estaria pondo em risco a estabilidade e a efetividade das democracias, na medida em que provocava “colapso dos meios tradicionais de controle social e deslegitimação da política e de outras formas de autoridade”, sobrecarregando os governos. “As demandas ao governo democrático crescem, ao passo que a capacidade do governo democrático fica estagnada”. (p. 9)
Mas os autores do relatório não aceitavam que o documento fosse pessimista. Manifestavam a convicção de que, “num sentido fundamental, o sistema democrático é viável” e as democracias podem funcionar se os cidadãos puderem dispor de “um verdadeiro entendimento da natureza do sistema democrático, e particularmente se forem sensíveis à sutil interrelação entre liberdade e responsabilidade”. Defendiam uma “adaptação” da democracia como estratégia para o revigoramento da democracia. Mais “recursos institucionais” e mais autoridade eram fundamentais para que os líderes pudessem cumprir seu papel e uma “forte liderança institucionalizada” prevalecesse sobre a proliferação de “lideranças carismáticas personalizadas”.
O relatório da Trilateral propunha, em suma, uma democracia menos democrática e menos politizada, mais formalizada e com maior capacidade de gerar governos que governassem. Não foi por acaso, portanto, que os críticos do relatório viram nele o germe de uma proposta burocrática e autoritária de reforma da democracia.
Em 1984, o social-liberal Norberto Bobbio publicou um famosíssimo e seminal livro, O futuro da democracia, para sustentar argumento contrário ao diagnóstico da Trilateral. Nele, punha em xeque a própria ideia de que se estaria a viver uma época de “crise da democracia”, na qual os regimes democráticos pareciam entrar em colapso. “A democracia não goza no mundo de ótima saúde, mas não está à beira do túmulo”, escreveu Bobbio. Muito mais adequado para abordar os problemas da democracia seria falar em “transformação”: todo regime democrático é dinâmico e “o estar em transformação é seu estado natural”. Nas sociedades que então se reorganizavam, acentuava-se um contraste que Bobbio elevaria à condição de fator explicativo básico, na medida em que certas “promessas” da democracia – o fim do poder invisível e das oligarquias, a representação política, a valorização da participação, o cidadão politicamente educado – teriam entrado em choque com a dura realidade do capitalismo, deixando assim de ser cumpridas. “Obstáculos imprevistos” dificultariam o cumprimento das promessas e forçariam a democracia a se ajustar. As “transformações da democracia” seriam, assim, interpretadas como derivando de um “contraste entre a democracia ideal tal como concebida por seus pais fundadores e a democracia real em que, com maior ou menor participação, devemos viver cotidianamente”. (BOBBIO, 2015, p. 24).
As “promessas não cumpridas” pela democracia não implicavam sua “degeneração” na medida em que representavam uma “adaptação natural dos princípios abstratos à realidade”, como ocorre sempre que a teoria é “forçada a submeter-se às exigências da prática”. A única daquelas promessas que tinha desdobramentos graves e preocupantes era a relativa à “sobrevivência (e à robusta consistência) de um poder invisível ao lado ou sob (ou mesmo sobre) o poder visível”, fator que corrompia a democracia. O realismo de Bobbio fazia com que ele se mostrasse convencido de que era preciso, sempre, “fazer descer a democracia do céu dos princípios para a terra onde se chocam interesses consistentes” (idem, p. 31).
O aumento dos problemas políticos que requerem competências técnicas, a expansão do aparato burocrático, o baixo rendimento e a lentidão decisória dos regimes democráticos diante de uma sociedade sempre mais demandante e rápida, a força dos interesses particulares e do corporativismo, a tecnoburocratização – todas estas imposições do capitalismo tardio impunham exigências novas à democracia, levando-a a se transformar.
O tema clássico reaparecia: se a democracia traduzida nos sistemas políticos nacionais conhecia problemas e estava em transformação, que efeito isso teria sobre o sistema internacional de Estados? E vice-versa: “que consequências podem ter sobre a democracia interna dos Estados democráticos a presença de Estados não democráticos no sistema internacional e a falta de democratização do próprio sistema”? Em outras palavras, a questão que incomodava o filósofo italiano era o de saber se seria possível “ser democrático em um universo não democrático” (idem, p. 268). Aos inesperados obstáculos internos que se antepunham aos sistemas nacionais era preciso agregar os “obstáculos externos”, aqueles que um regime democrático encontra por fazer parte da sociedade internacional, “que é por si mesma essencialmente anômica e da qual fazem parte Estados não democráticos”.
Para Bobbio, ainda que o processo de democratização do sistema internacional já estivesse em andamento, ele ainda era incompleto, pois não atingira o plano político. As relações entre os Estados continuavam a ser marcadas ou pela anomia ou pela autocracia: ou a anarquia ou o império. “Apenas com a constituição da Liga das Nações, em primeiro lugar, e depois com a Organização das Nações Unidas é que se experimentou uma terceira via, a da superação da anarquia sem cair na autocracia ou, para usar conceitos acima aclarados, da superação da anomia sem cair na heteronomia. Estas duas instituições internacionais tendencialmente universais foram o produto de um autêntico pactum societatis, ao qual porém ainda não se seguiu o pactum subiectionis, vale dizer, a submissão dos diversos contraentes a um poder comum a quem se atribua a exclusividade do poder coercitivo” (idem, p. 285).
O sistema de equilíbrio entre várias potências ou grupos de potência continuaria a vigorar, ainda que convivendo ao lado de um sistema novo, orientado pelo processo de democratização. Se o primeiro tinha efetividade, o segundo se apoiaria na legitimidade e no “consenso tácito ou expresso da maior parte dos membros da comunidade internacional, que deram vida e continuam a manter viva a Organização das Nações Unidas”. Tem, porém, escassa efetividade. Isso levava Bobbio a reconhecer a existência de um “duplo sistema internacional, composto de dois ordenamentos idealmente incompatíveis entre si, mas praticamente coexistentes, que se conhecem mas não se reconhecem, que não se ignoram mas agem independentemente um do outro” (idem, p. 290). O sistema como um todo permaneceria resolvendo seus conflitos mediante o recurso à violência recíproca. A situação não mudou de lá para cá.
Tal fato criaria não poucos problemas para o funcionamento dos governos democráticos, que ficariam impossibilitados de observar, na política externa, os mesmos compromissos que assume e respeita na política interna. A ideia kantiana da “paz perpétua” ficaria, assim, impossibilitada de ganhar corpo. E um círculo vicioso terminaria por se reproduzir: “os Estados poderão se tornar democráticos apenas em uma sociedade internacional completamente democratizada. Mas uma sociedade internacional completamente democratizada pressupõe que todos os Estados que a compõem sejam democráticos. A realização de um processo é obstaculizada pela não realização do outro” (idem, p. 301).
Bobbio, no fundo, enfatizava que a democracia conhecia uma espécie de rearrumação, que em vez de inviabilizá-la fazia com que acumulasse novas energias, sem que, porém, jamais conseguisse se completar. Em “crise” ou em transformação, a democracia realmente existente mostrava-se como praia comum dos valores da tolerância, da liberdade e da igualdade, e nessa medida se repunha.
Muito tempo se passou desde então. As sugestões de Bobbio permanecem a instigar a reflexão. Mas certamente precisam ser confrontadas com os novos termos do jogo social objetivado pelos desenvolvimentos recentes do capitalismo e da sociedade informacional.
Referências bibliográficas
Jürgen Habermas. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. Tradução de Márcio Seligmann-Silva. São Paulo: Littera Mundi, 2001.
—————. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Ed. Loyola, 2002.
Fareed Zakaria, O mundo pós-americano. São Paulo, Companhia das Letras, 2008.
Michel Crozier, Samuel Huntington & Joji Watanuki. The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, New York University Press, 1975.
Norberto Bobbio. O futuro da democracia [1984]. 13ª ed. revista. São Paulo/Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2015.