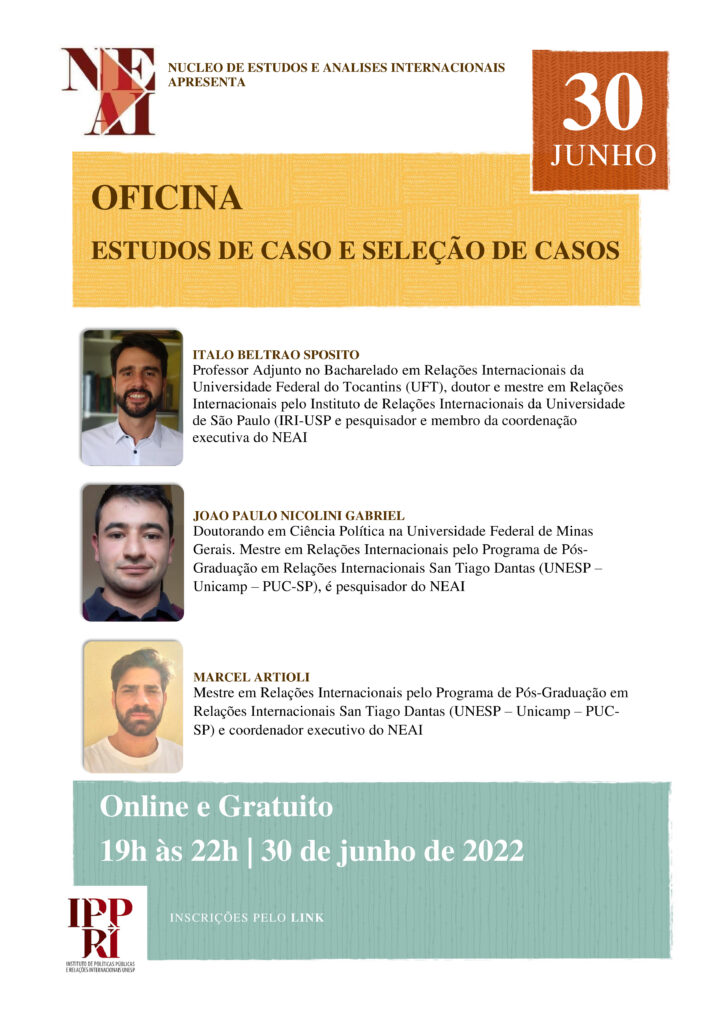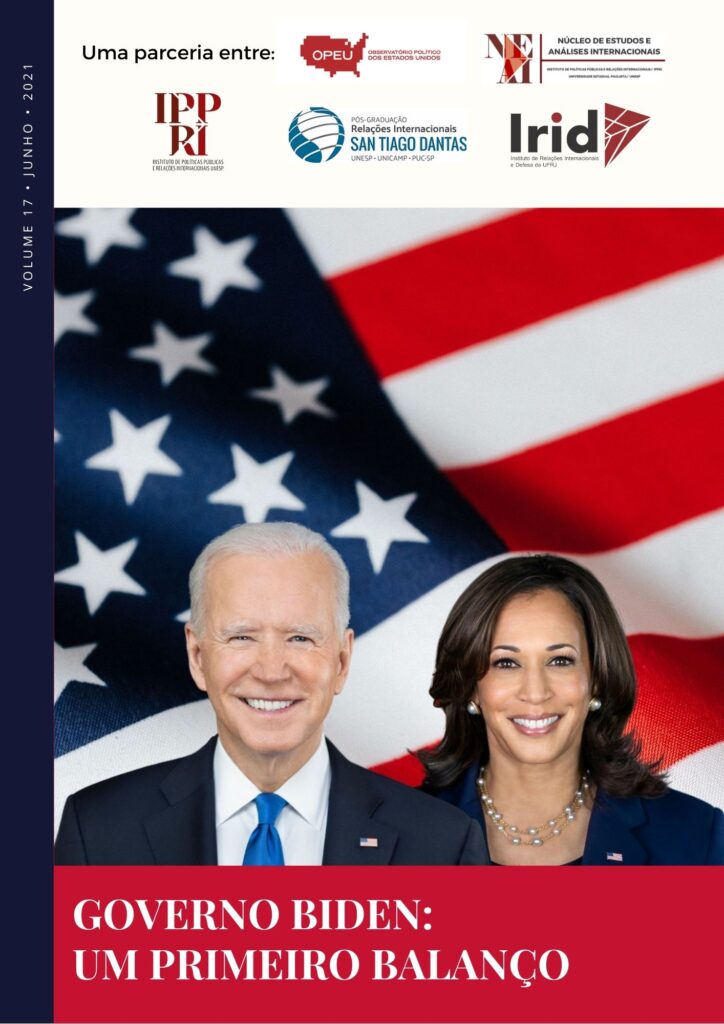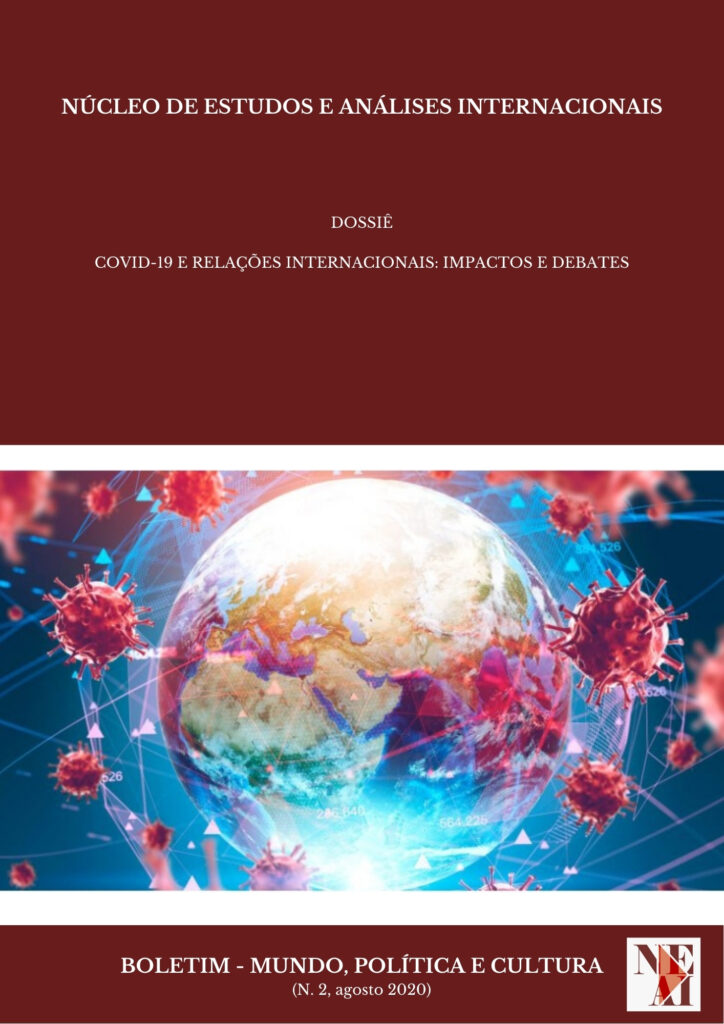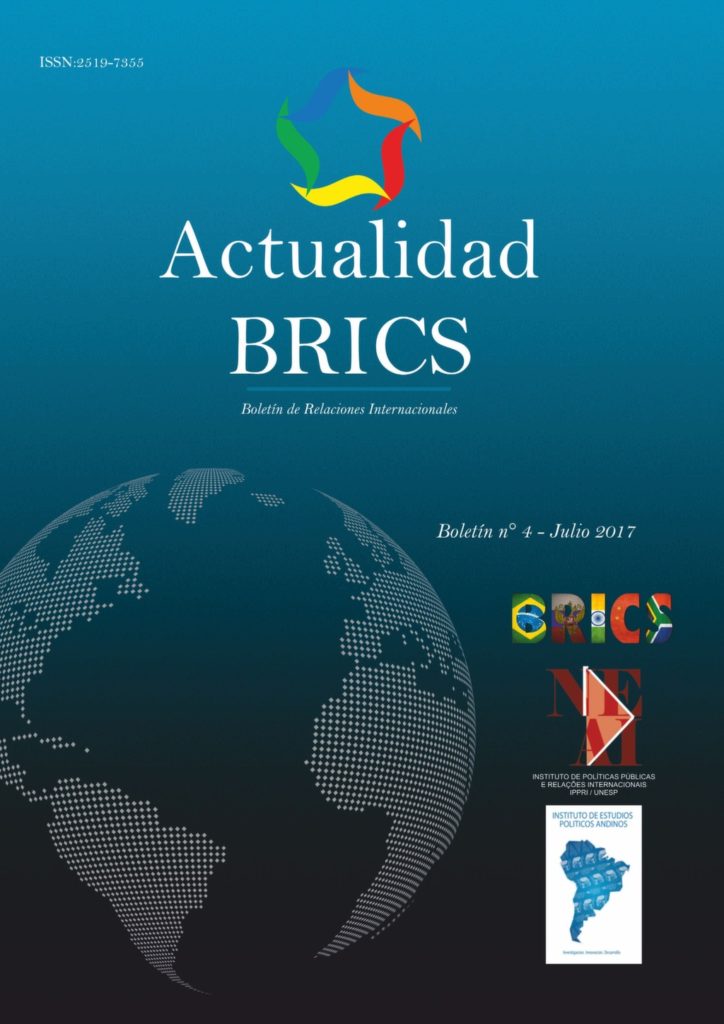A grande maioria dos processos sociais possibilita processos interpretativos e um infindável universo de atribuições de sentido. As alternativas teóricas e metodológicas se multiplicam com o acumulo de trabalhos acadêmicos, ressignificando a realidade e transformando a nossa visão. É na arena das ideias que as grandes sínteses são formadas, moldando mentes e condicionando o campo de ação.
O estudo histórico da política externa brasileira não é exceção. Diversas escolas interpretativas desejaram desvendar as condições gerais que moldaram a trajetória externa do país. As abordagens acompanhavam os anseios, dilemas e modismos de cada época, enfatizando alguns processos em detrimento de outros. Quase sempre se buscava avaliar o lugar para um país singular, de tamanho continental, grande diversidade natural e social, além de inestimável potencial. Os ramos de pensamento se espalharam, concebendo modelos que iam desde a pura análise do Estado e de seus representantes até misturas de teoria econômica com análise de classe e/ou pelo olhar da matriz de desenvolvimento. Importantes a sua maneira, delimitaram um campo fértil que ainda produz resultados originais.
Dessa constelação de debates, um dos mais significativos tem sido sobre os eixos da inserção internacional brasileira. De maneira geral, ele se apresenta por meio de um binômio entre tendência globalista e tendência autonomista, que se alternariam como forças de condução da ação externa. Nem sempre reivindicada pelos formuladores da política externa do momento, sendo por vezes atribuídas pelos seus críticos, essas seriam as duas visões de mundo possíveis para países com a dimensão e a posição que o Brasil ocupa no sistema internacional. Cada uma delas representa um conjunto disforme de táticas e procedimentos, que se diferenciariam na essência, ainda que jamais tenham sido aplicadas de maneira absoluta, servindo tão somente como um sentido geral.
O globalismo usualmente entende que a integração, especialmente econômica, seria um imperativo num mundo cada vez mais conectado e interdependente, sendo impossível encontrar soluções para problemas complexos sem parcerias externas e aparato institucional supranacional. Amparado pela dimensão transnacional, ela tensionaria a integração nas cadeias internacionais de produção, defendendo a abertura econômica por meio de acordos comerciais. Por outro lado, a noção de autonomia é ancorada no conceito de soberania, defende alternativas internas aos imperativos sistêmicos e busca desenvolver recursos para tal empreitada. Enquanto o primeiro é ligado a uma ideia liberalizante, o segundo está amparado em um paradigma mais nacionalista, de olhar preocupado em limitar as ameaças estrangeiras por meio de alternativas nacionais.
Essa dicotomia colabora na compreensão dos movimentos internacionais especialmente após 1930, já que parece fazer pouco sentido falar desse antagonismo nos períodos anteriores. O autonomismo foi especialmente relevante na condução externa durante boa parte do século XX, ainda que as críticas a esse modelo tenham sido persistentes. Foi o momento do desenvolvimentismo, do avanço da indústria e da supremacia da perspectiva centro-periferia, que alcançou seu auge durante a presidência de Ernesto Geisel (1974-1979).
No início dos anos 1990, as diversas frentes de apoio ao autonomismo se desmobilizaram, em parte pelas mudanças no sistema internacional e/ou pelo aparente limite que o modelo anterior havia apresentado. A sensação geral de esgotamento foi combustível para que a narrativa de necessidade de mudanças na relação do país para com o mundo. Alegando um fardo pesado de protecionismo, isolamento econômico e heranças do estatismo ‘varguista’, as novas diretrizes se formaram em oposição a esses “empecilhos” para o projeto de modernização globalizante. Em uma retórica pretensamente anti-isolacionista, defendiam, como nas palavras de Luiz Felipe Lampreia, então Ministro das Relações Exteriores do Brasil de Fernando Henrique Cardoso, um modelo alternativo de “autonomia”, dessa vez via integração, ou seja, articulada com o meio internacional.
Os últimos anos do governo FHC já sinalizavam uma mudança nesse padrão. Assumindo as assimetrias da globalização, admitindo que esta não foi capaz de trazer aos países do Sul global os benefícios que se anunciavam na sua gênese, a retórica do seu governo se encontrava com o movimento de retomada que marcaria o modelo lulista de ação externa. Recuperava-se parte do aporte autonomista, procurando alternativas dentro da estrutura dos Estados para romper a dependência e aumentar a margem de manobra frente à pressão externa. Aproveitando o ciclo virtuoso das commodities, pode implementar políticas sociais de relevância, enquanto fora do país fortalecia as posições de empresas brasileiras em setores estratégicos com o apoio direto do Estado. Diferente do modelo autonomista das décadas de 1960 e 1970, pretendia usar certas brechas sistêmicas para garantir seus objetivos, implementando uma ação reformista nos fóruns internacionais consolidados e inovadora na criação de novos espaços de atuação.
O governo Rousseff manteve a retórica autonomista nos marcos do antecessor, no entanto, a prática foi pouco efetiva. A crise econômica abalou a capacidade de mobilização de recursos e vários projetos foram relegados à inércia. Nem mesmo a crise de espionagem americana e o reequipamento da força aérea conseguiram mudar o quadro geral, demonstrando sinais de hesitação e perda de prestígio.
Toda a ação externa do período pós-FHC, ou seja, posterior a 2002, foi acompanhada de perto por uma permanente multidão de críticos, dentro e fora da academia. Entre as argumentações estariam a seletividade das parcerias com empresários na promoção externa, o privilégio no financiamento de países afinados ideologicamente com o Partido dos Trabalhadores, além da desaprovação ao modelo de integração econômica que favorecia alguns projetos regionais e multilaterais, deixando de lado os acordos pontuais de livre-comércio. Esse campo de contestação passou a ganhar claro conteúdo programático primeiramente na campanha de Aécio Neves, candidato do PSDB à presidência em 2014, e posteriormente durante o cisma entre PT e PMDB, levando o grupo de apoio do presidente interino Michel Temer a assumir quase integralmente as posições do tucano.
O que reserva esse novo ciclo, especialmente agora que o processo de impedimento de Dilma Rousseff parece irreversível? Aparentemente a tendência é de um neoglobalismo, que apesar do esforço de incluir em sua narrativa questões como meio ambiente, direitos humanos e integração regional, parece especialmente centrado na tentativa de inserção do Brasil nas cadeias internacionais de produção em meio a um processo de diminuição do papel do Estado. A lógica está amparada no mantra de que o país teria se isolado nos últimos anos, virando as costas para os ventos do mundo. Evidenciando uma sobreposição da esfera comercial/econômica à política, a única forma de recuperar o tempo perdido seria se lançar em uma empreitada de abertura de mercados, celebrando a maior quantidade possível de acordos, o que geraria maior competitividade e modernização.
As primeiras ações da chancelaria de José Serra têm tentado reforçar que o destino será antes de tudo um desmanche das iniciativas do período Lula-Dilma, que apresenta como sendo uma política externa partidarizada. O argumento débil parecer esconder uma tentativa mais profunda de mudar os rumos da ação, lançando o Brasil em um caminho liberalizante sem paralelos históricos. Contra essa tentativa, contam a fragilidade da posição brasileira decorrente das contradições do processo de impedimento da presidência e o curto espaço de tempo até o próximo pleito.
O fato é que nenhum modelo de inserção e política externa foi implementado segundo um projeto que garantisse todos os seus contornos. Nem mesmo os militares no auge do regime de exceção tiveram essa força e capacidade. Com o fim da interinidade, no entanto, os contornos dessa transição na orientação dos assuntos exteriores ficarão mais nítidos.