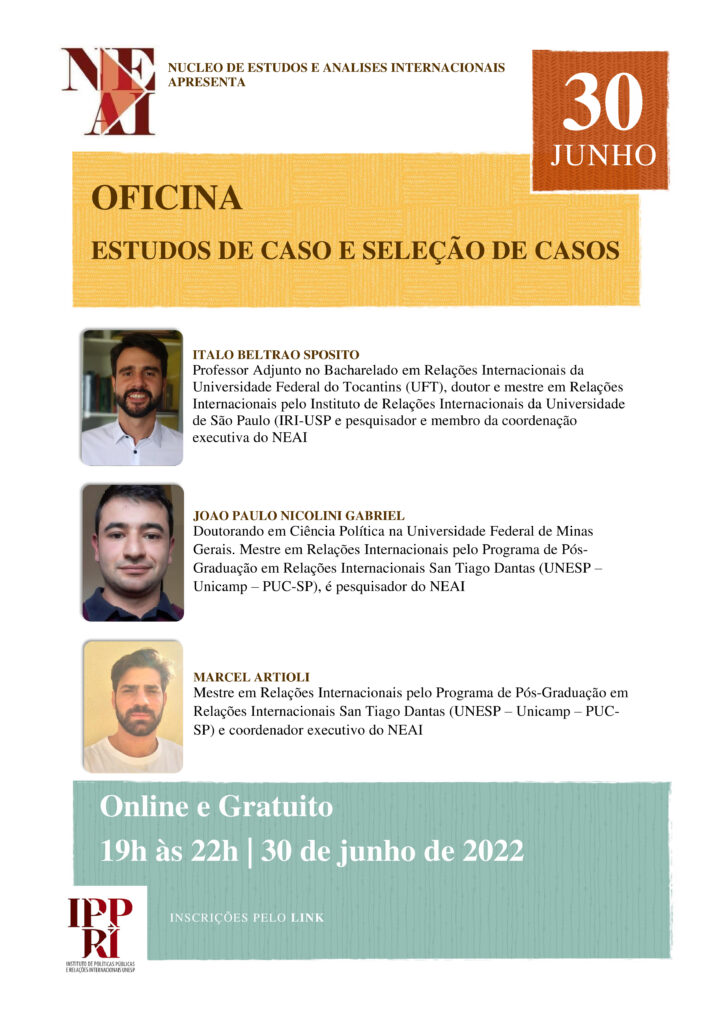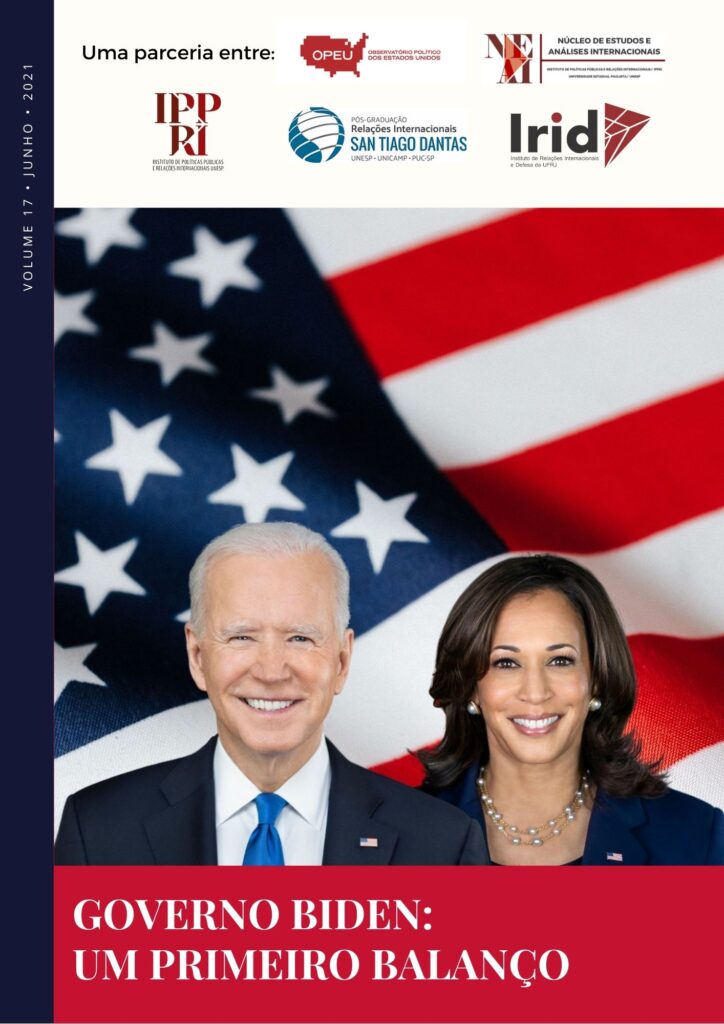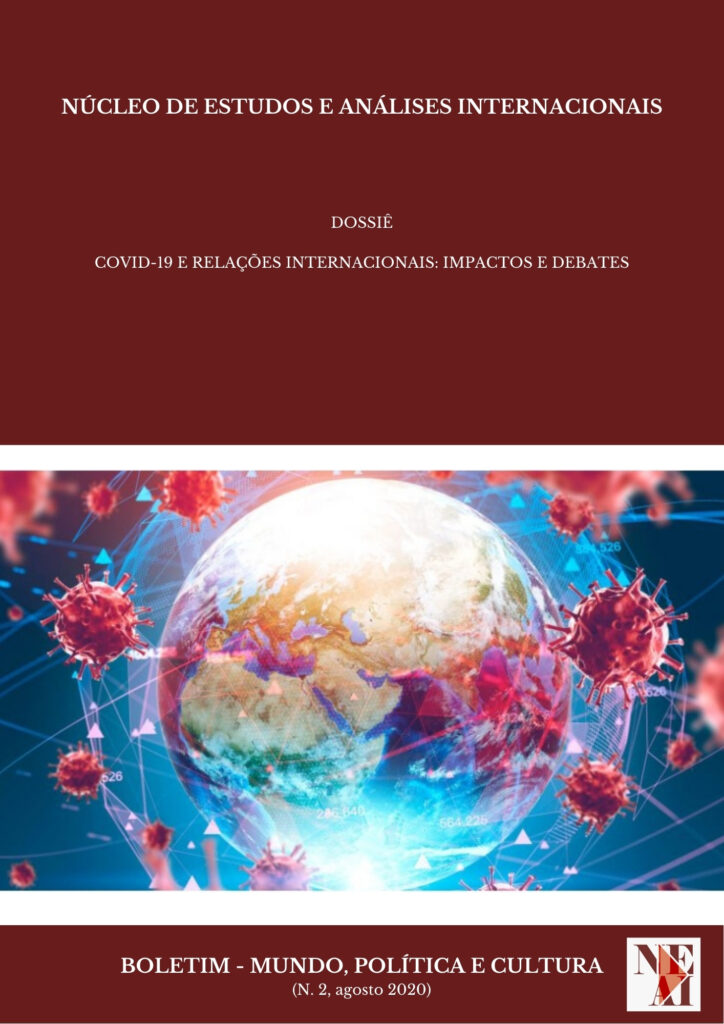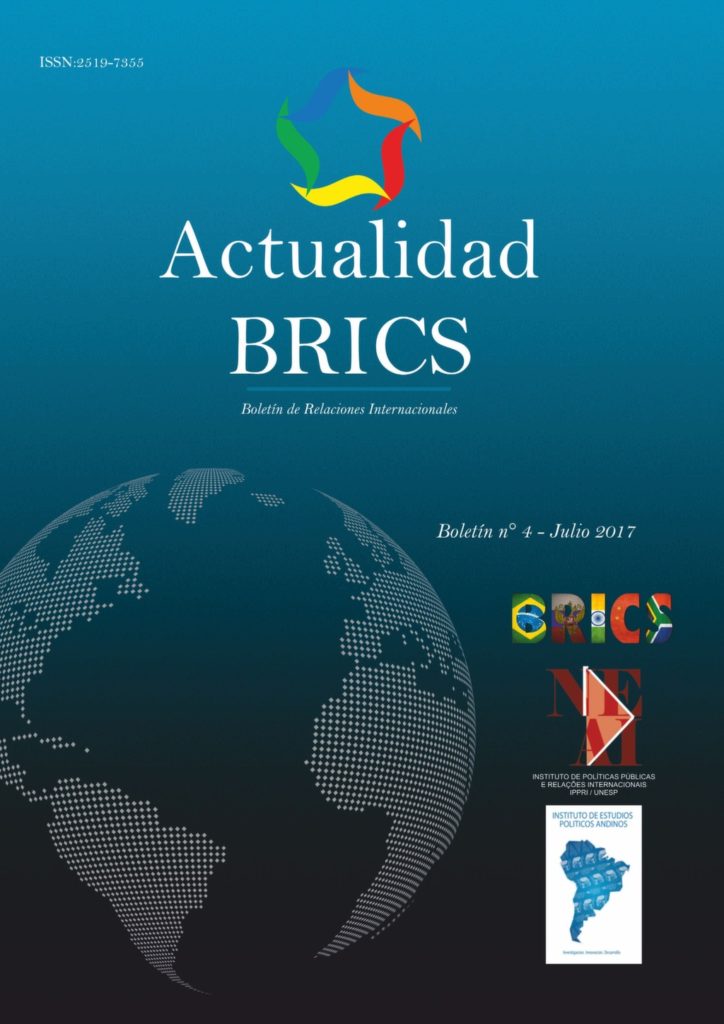Na teoria econômica, e também entre os especialistas em negociação, é comum que se faça alusão ao chamado “jogo de soma zero”. Ao contrário do modelo de “soma positiva”, popularmente conhecido como “ganha-ganha”, essa é uma forma de descrever situações em que o ganho para um agente representa necessariamente a perda para outro. Mais do que uma formulação teórica, trata-se também de um mindset — uma forma de interpretar o mundo e de se posicionar diante dele.
Parece ser o caso do presidente Donald Trump, que completa, em 20 de janeiro, seu primeiro ano de governo.
Desde que assumiu a Presidência, Trump tem adotado uma doutrina cujo principal foco está em mapear adversários e políticas que, segundo ele, “tiram vantagem dos Estados Unidos”. É como se as relações exteriores fossem vistas como um permanente jogo de soma zero e os interlocutores com quem o país se relaciona fossem classificados como concorrentes inevitáveis que só podem elevar capacidades às suas custas.
Não à toa, portanto, Trump passou o último ano antagonizando importantes parceiros dos Estados Unidos, como o México e diversos países europeus, além de China e Rússia — descritos na National Security Strategy de 2017 como competidores estratégicos que ameaçam a “segurança e a prosperidade” do país. Isso para não falar em Cuba, Irã e Coreia do Norte.
Sem surpresa, também virou as costas para saídas multilaterais: retirou o país das negociações da Parceria Transpacífico (TPP), rejeitou o Acordo de Paris sobre o clima, buscou incentivar movimentos de revisão da participação dos Estados Unidos em Organizações Internacionais como a ONU, além de sugerir a necessidade de atualização dos termos praticados na Otan e no Nafta. Apurou o discurso soberanista e, sempre que possível, buscou contrastar suas posições às de seu sucessor na tentativa de desqualificar o legado da gestão feita por ele. Como resultado, Trump foi descrito por Uri Friedman, da revista “The Atlantic”, como um “dealbreaker” (um “quebrador de acordos”, em tradução livre) e teve sua política classificada por Richard Haass, presidente do Council on Foreign Relations, como “doutrina da retirada”.
Há quem tente explicar a rationale do posicionamento de Trump a partir de recursos como “a teoria do louco” (a chamada madman theory), que ficou popular durante a Guerra Fria, quando o presidente Richard Nixon buscou construir uma imagem de inconstância a fim de que os líderes soviéticos receassem ações imprevisíveis por parte dos Estados Unidos. Há quem diga que trata-se de um estilo de “negociação por conflito”, em que o presidente estrategicamente aposta no endurecimento de certas agendas que, feito alegoria, contribuem para elevar o poder de barganha nas pautas em que realmente se deseja melhorar os termos de troca. Há evidencias que igualmente reforçam e refutam as duas hipóteses.
Pensando na contribuição teórica de Roger Fisher e William Ury, professores de Harvard e referências no estudo de técnicas de negociação, aventamos aqui uma terceira via de análise: de que Trump consolidou-se como um líder que negocia mais por posições do que por interesses. Por essa razão, sua gestão prioriza aspirações superficiais em detrimento de ações estratégicas.
A narrativa do permanente “nós contra eles” vem da crença de que ganhos de terceiros representam inevitavelmente perdas aos Estados Unidos e vice-versa. Ao lado da política de “paz por meio da força”, termo que a Administração resgatou dos anos 1980, ela revela um presidente desconfiado, que vê concessões como pré-requisitos para os relacionamentos, e que entende o processo de negociação como uma competição de insistência a ser vencida com pressões e ameaças.
Publicado no jornal O Globo, 20/01/2018.