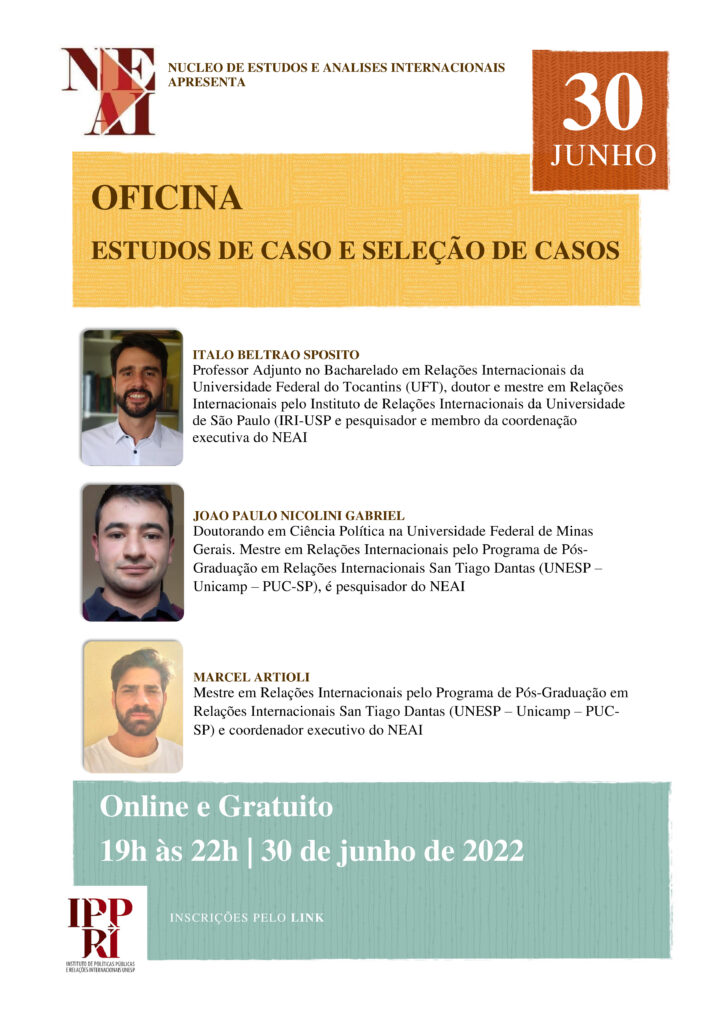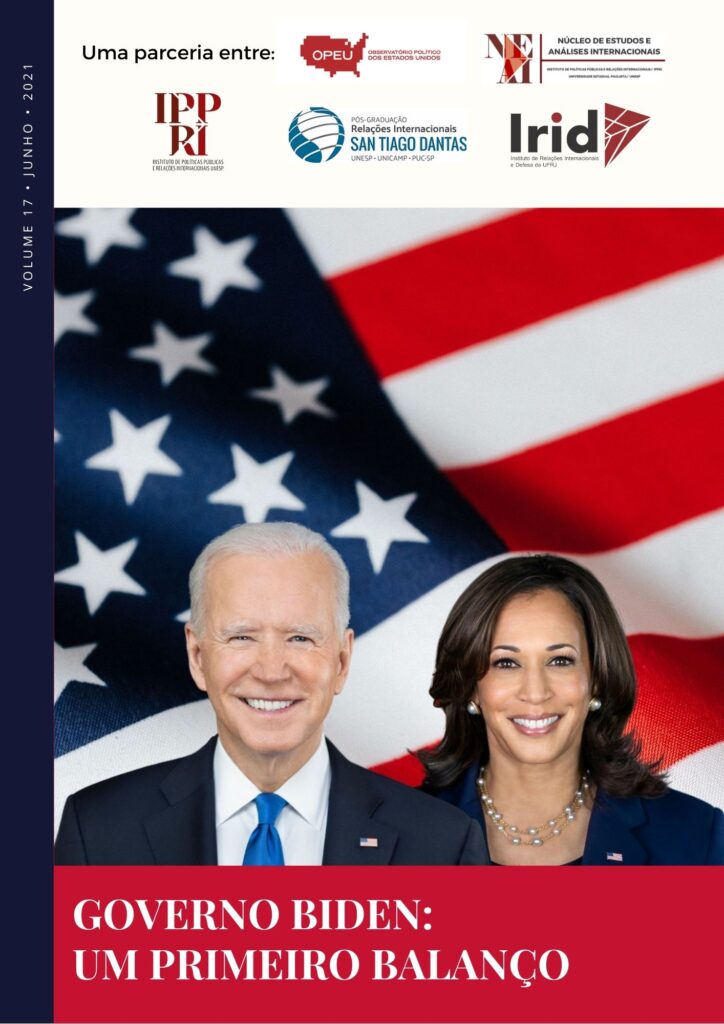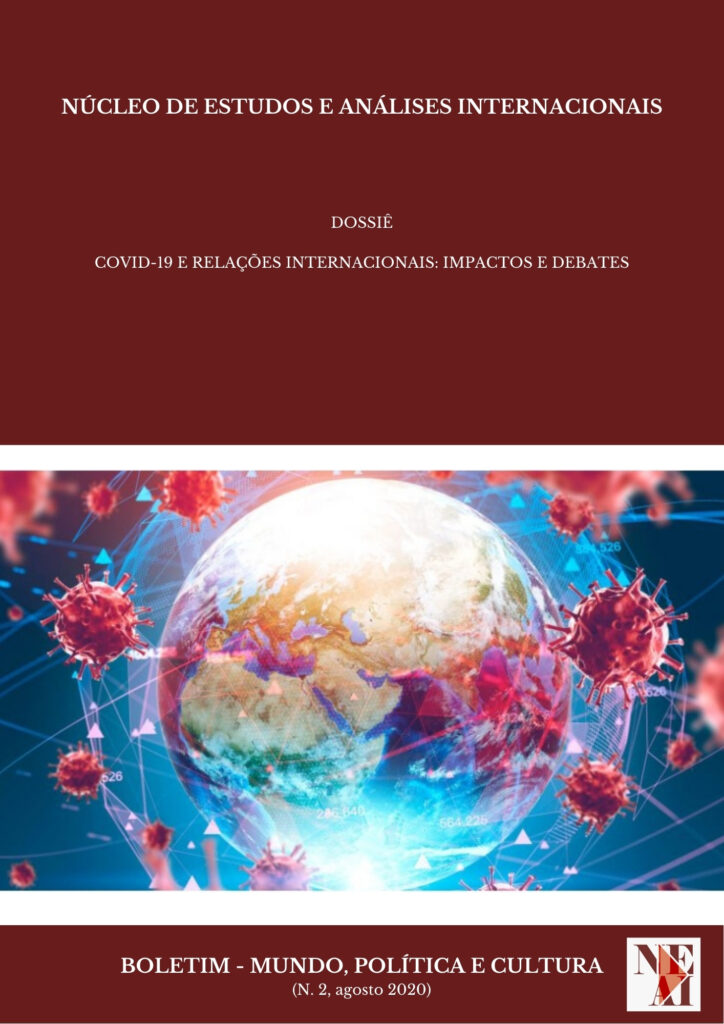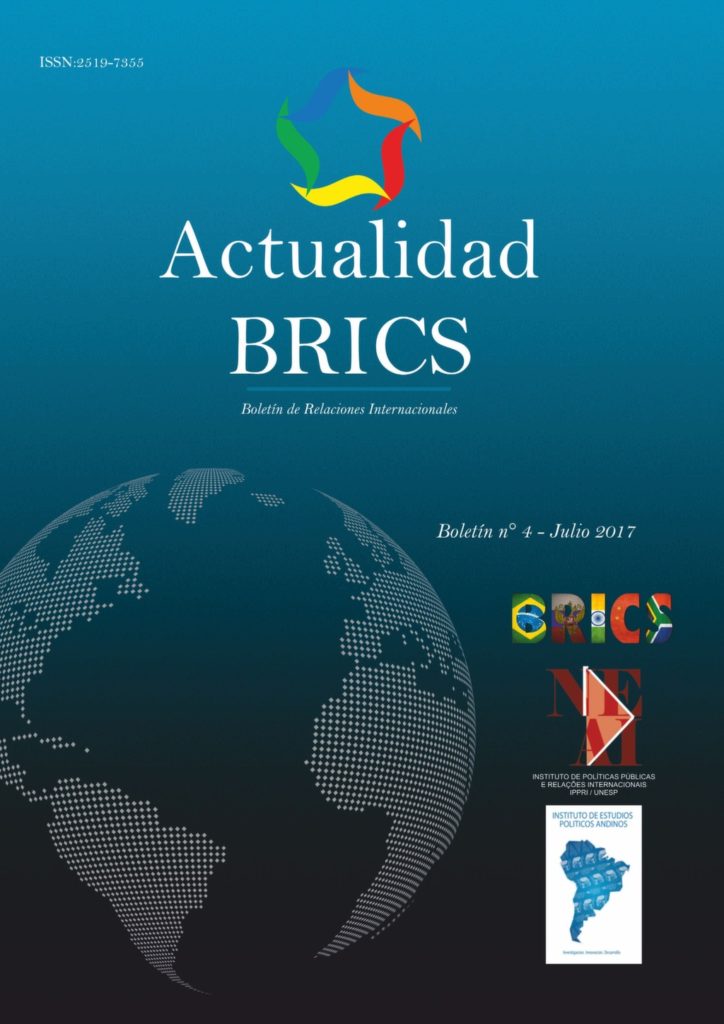Por Angelo Raphael Mattos
Mestrando em Relações Internacionais no Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP).
A diferença entre o que é legal e o que é justo passa, fundamentalmente, pela consciência individual e pela relação dessa com o que há de comum na definição da coletividade acerca da justiça e da legalidade. A despeito da clara distinção entre esses termos, historicamente, ao considerarmos os principais marcos normativos de direitos humanos, é possível notar o estreitamento semântico que vem ocorrendo entre eles, tanto na esfera doméstica, no caso do Brasil especificamente, no que tange aos direitos fundamentais, quanto no âmbito internacional, ainda que muitos sejam os desafios a serem superados.
Documentos como a Carta Magna inglesa de 1215 – considerada a matriz do movimento que posteriormente ficaria conhecido como constitucionalismo – foi marco importante na diferenciação entre a legalidade e a justiça. Movidos pelo senso do que é justo – ainda que fosse uma justiça restrita a eles, o que, por si só, é passível de análise – os nobres passaram a questionar os limites do poder irrestrito do rei João Sem Terra, o que culminou na Magna Carta, que submeteu o rei à limitação imposta pela lei.
Somente séculos depois, na Revolução Francesa de 1789, foi que à noção de justiça associaram-se os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que passaram a compor o texto da Constituição francesa, e, nos séculos seguintes, o da Constituição de outros Estados, como é o caso do Brasil. A Lei Maior brasileira, de 1988, é pródiga em artigos que enunciam direitos e garantias fundamentais de cunho democrático. E a democracia, em sentido amplo, nada mais é senão o elo entre a lei e a justiça, tendo em vista que uma norma elaborada no bojo dos princípios democráticos é, em tese, mais propensa a ser justa, porque considera os anseios da maioria.
Com efeito, a ideia de justiça está diretamente atrelada ao princípio da igualdade e da máxima participação popular possível. Apesar disso, houve momentos em que lei e justiça estiveram bem distantes. Leis desumanas vigoraram durante regimes totalitários como o Nazismo. Vários segmentos sociais, dentre eles os judeus e os ciganos, perderam o direito à nacionalidade. E, mais do que isso, tais leis cercearam o mais fundamental dos direitos, o direito à vida. Entretanto, após o ultraje, e em um contexto de desfecho da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, em 1945, por meio da Carta de São Francisco, assentada em valores democráticos e de justiça, com o objetivo último de manter a paz e a segurança internacionais. Mais tarde, em 1948, a ONU documentaria a Declaração Universal dos Direitos Humanos, alicerçada em princípios que respeitam, primordialmente, a dignidade da pessoa humana, a qual, por si só, já requer justiça nos atos do Estado, no que se refere, sobretudo, à equidade. Tal Declaração ensejou os Pactos de Direitos Humanos de 1966, dos quais o Brasil é parte, que versam tanto sobre direitos civis e políticos quanto acerca de direitos econômicos, sociais e culturais. Vale lembrar, ainda, importante avanço, no Brasil, trazido pela Emenda Constitucional 45/2004 que garantiu aos tratados internacionais sobre direitos humanos, quando aprovados segundo o que dispõe o § 3º do art. 5º da CF/88, status de emenda à Constituição.
Alguns autores, no entanto, têm debatido acerca da extensão da universalidade desses direitos, bem como de seu alcance, ainda que observados os princípios gerais do direito e as normas imperativas de direito internacional, Jus Cogens. Eles alegam que o termo universal desconsidera o relativismo cultural. Uma prática não enraizada na cultura de um determinado país pode ser comumente aceita em outro e vice-versa. De acordo com essa perspectiva, o próprio conceito de justiça relativizar-se-ia. As Escolas do Direito, anteriormente à essa discussão sobre o relativismo cultural, buscaram uma definição para justiça e para a origem da lei. Dentre elas, uma interessante observação vem do Jusnaturalismo. Para essa corrente, antes da lei positivada, existe um direito natural, inerente ao homem, que salta aos olhos e reside na consciência de cada um. Decorrente disso, quando não há justiça, sem nem mesmo saber ao certo defini-la, as pessoas sabem que ali ela se faz ausente.
Por outro lado, ao considerar os direitos humanos como um construto histórico, Bobbio (A era dos direitos, 2004, p. 7) assevera que “os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual”. Para ele, a discussão entre moral e direito, por exemplo, que permeia a noção de justiça, deve ser considerada na esteira do fundamento da normatividade, no que ele chama de distinção entre moral rights e legal rights, enquanto a diferenciação entre direito natural e direito positivo deve pautar-se pela origem. Nesse sentido, um dos pontos-chave nesse debate, para Bobbio, é que há muito a ser feito no que concerne à efetividade de uma ampla gama de direitos declarados. É preciso que se considere o alcance real de tais normas em relação ao número de pessoas, em diferentes países. O trabalho interno e internacional na superação dos desafios para a garantia efetiva dos direitos humanos, segundo nosso entendimento, faria convergir, de modo acentuado, os diferentes significados dos signos lei e justiça, como elemento fundamental do desenvolvimento dos países e de suas populações.
“A linguagem dos direitos — observa Bobbio (idem, p. 9) — tem indubitavelmente uma grande função fática, que é emprestar força particular às reivindicações dos movimentos que demandam para si e para os outros a satisfação de novos carecimentos materiais e morais; mas ela se torna enganadora se obscurecer ou ocultar a diferença entre o direito reivindicado e o direito reconhecido e protegido. Não se poderia explicar a contradição entre a literatura que faz a apologia da era dos direitos e aquela que denuncia a massa dos ‘sem-direitos’.”