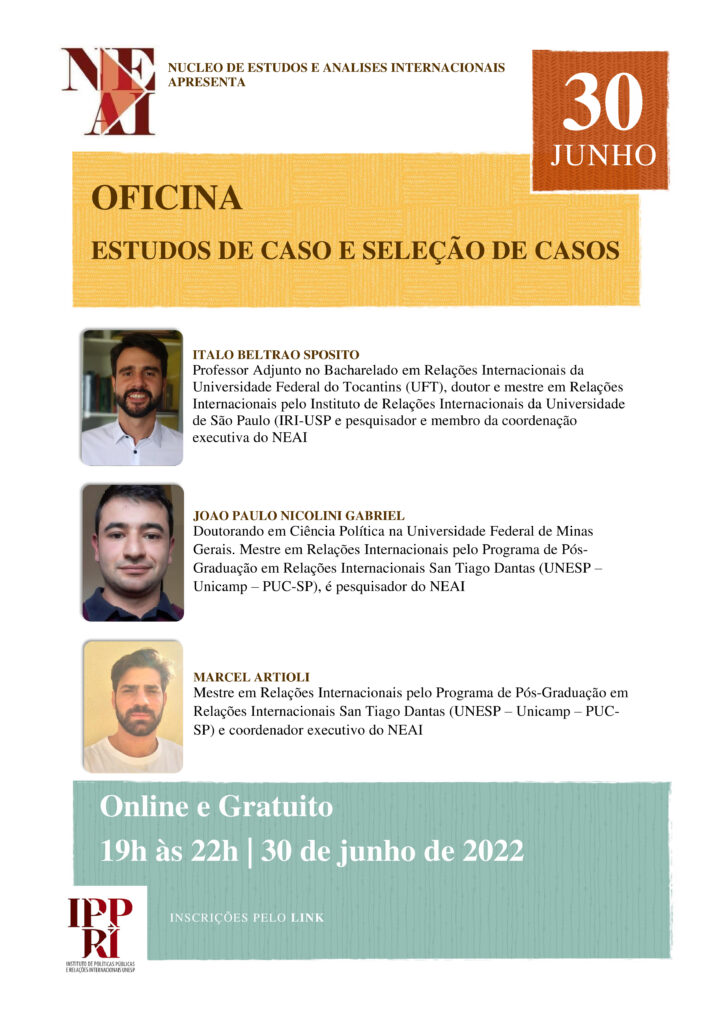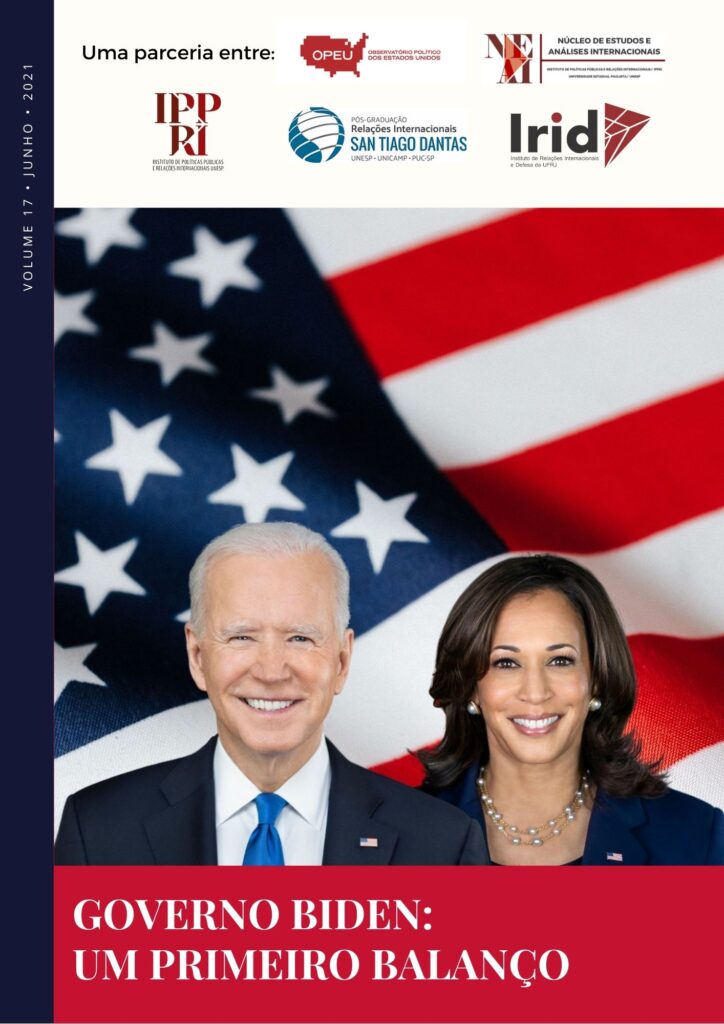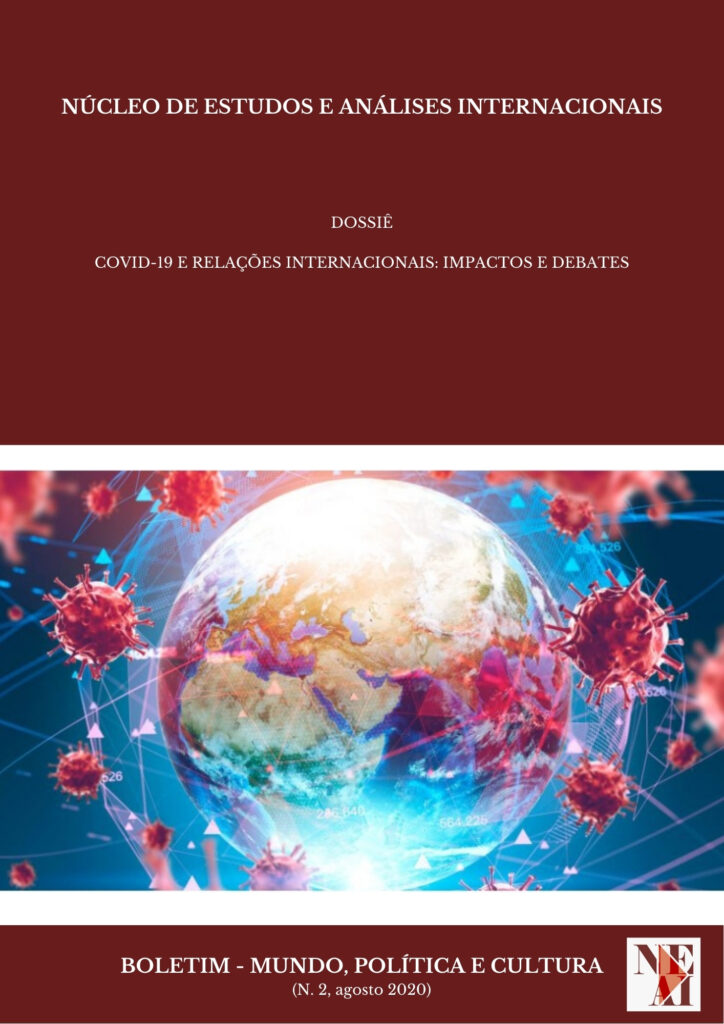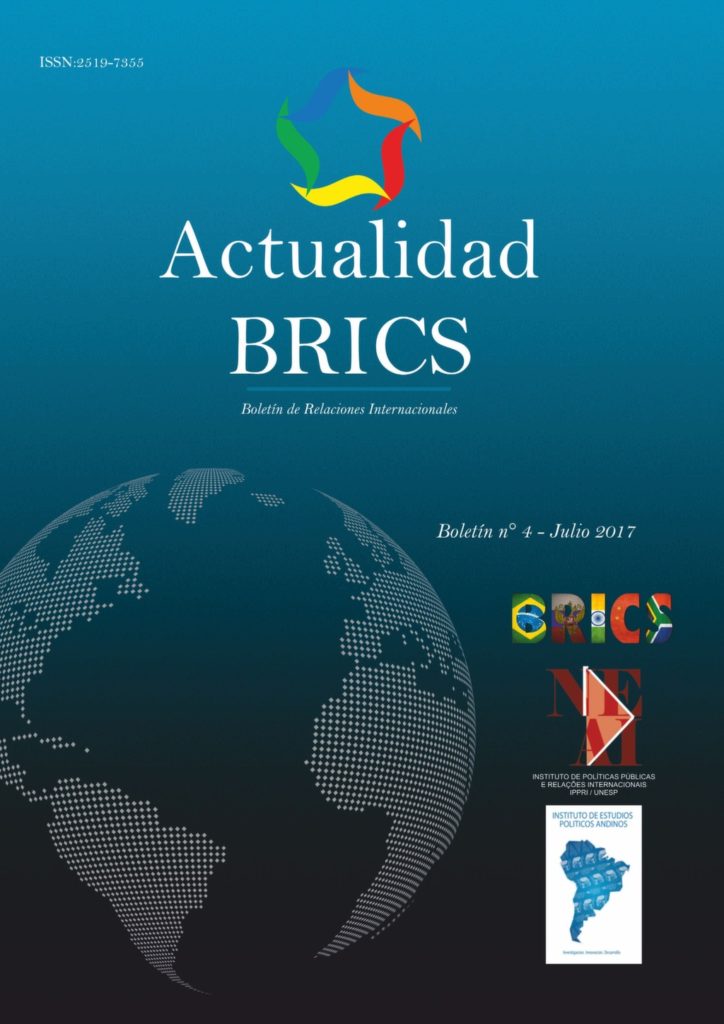Na reta final das prévias, Donald Trump assumiu a liderança em pesquisas de opinião para a eleição nacional de 2016. Em maio, dados da ABC News/WaPo indicavam um placar de 46 a 44 pontos percentuais em relação a Hillary. Em julho, a Rasmussen indicou uma relação de 44 contra 37, e o levantamento da CBS News/NYT falava em empate técnico. Hoje, o LA Times é quem aponta cenário semelhante.
A diferença é pequena e, do ponto de vista estatístico, não é alarmante, inclusive porque a maioria das outras instituições sinalizam resultados que ainda mantém Hillary à frente.
Além disso, como é fundamental lembrar, embora sejam interessantes de se acompanhar, as pesquisas nacionais são irrelevantes para antecipar o resultado das eleições, dada a dinâmica do sistema eleitoral norte-americano, que considera o peso individual de cada Estado e de seus colégios eleitorais para a definição final do placar.
Se por um lado, portanto, não recomendamos extrair conclusões diante desses resultados, por outro é inevitável reconhecer que eles trouxeram à tona uma série de preocupações com o futuro.
Afinal, como lidar com o fato de que Trump, antes considerado um azarão de representação quase caricatural, tenha se tornado um presidente viável?
O trumpismo é um fenômeno de raízes sociais com elevada complexidade, um processo que merece observação atenta e análise rigorosa. Ele envolve não apenas um apelo simbólico perigoso, como também se apoia em um projeto político que propaga a intolerância e o isolamento.
Apesar do justificado alerta, no entanto, há de se considerar algumas razões pelas quais já podemos relativizar, desde hoje, o impacto que Trump candidato teria sobre um eventual Trump presidente.
A chegada à Casa Branca traz constrangimentos inevitáveis à plataforma de qualquer candidato eleito.
Trump não poderia governar sozinho, apostando na autonomia decisória que presume ter e alheio à lógica estabelecida por um sistema político que se curva aos permanentes checks and balances.
De acordo com o Artigo 2º da Constituição norte-americana, está claro que cabe ao presidente, enquanto chefe do Poder Executivo, agir como “comandante em-chefe do Exército e da Marinha”, “diplomata-chefe”, “administrador-chefe”, “chefe de Estado”, “chefe legislador”, “voz do povo” e “oficial-chefe da Justiça”. Apesar disso, a Constituição reserva ao Congresso o poder exclusivo de estabelecer o Orçamento e controlar as taxas e os gastos do governo, além de determinar a ajuda externa, formalizar tratados e acordos comerciais e de declarar guerra.
Assim, considerando apenas aspectos ligados à competência de cada poder, Trump já teria impeditivos formais suficientes para inviabilizar boa parte da plataforma que hoje propõe.
Além disso, sua administração precisaria se submeter politicamente ao jogo dinâmico e agressivo de barganha com diferentes agentes e estruturas, como burocracias, coalizões e instituições políticas a fim de obter apoio na apresentação, aprovação e execução de projetos.
Como outsider, Trump não tem experiência e trânsito necessários. Dependeria da base do partido republicano, com sérios problemas de coesão interna desde o início dos anos 2000, e que hoje sequer consegue se articular em relação à campanha do empresário.
Finalmente, Trump ver-se-ia diante de um dilema ético weberiano. De um lado conviveria com a chamada “ética da convicção”, orientada por suas preferências individuais. Do outro, teria que lidar com a “ética da responsabilidade”, a moral de grupo, que faria dele refém das decisões tomadas em nome do bem-estar coletivo.
Suas ações seriam validadas não com base em suas intenções, mas pelos resultados alcançados. Manter a harmonia política e social custaria ao Trump presidente o exorcismo dos excessos do Trump candidato.
Texto originalmente publicado no jornal Folha de São Paulo, em 20/10/2016.